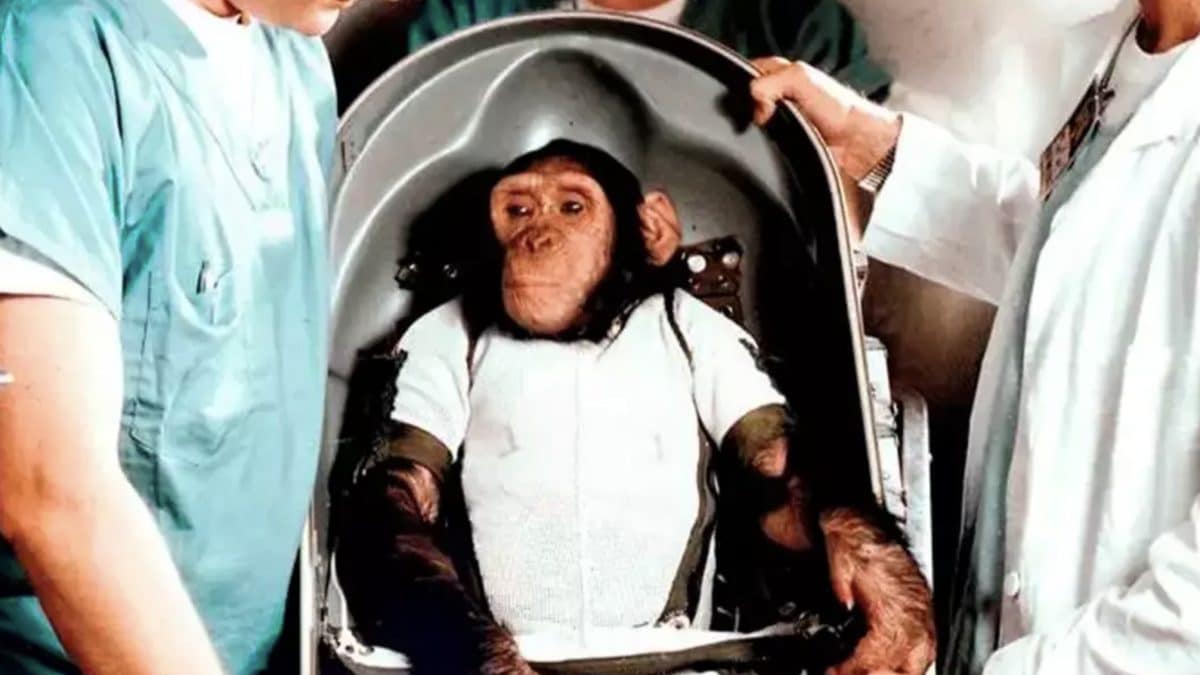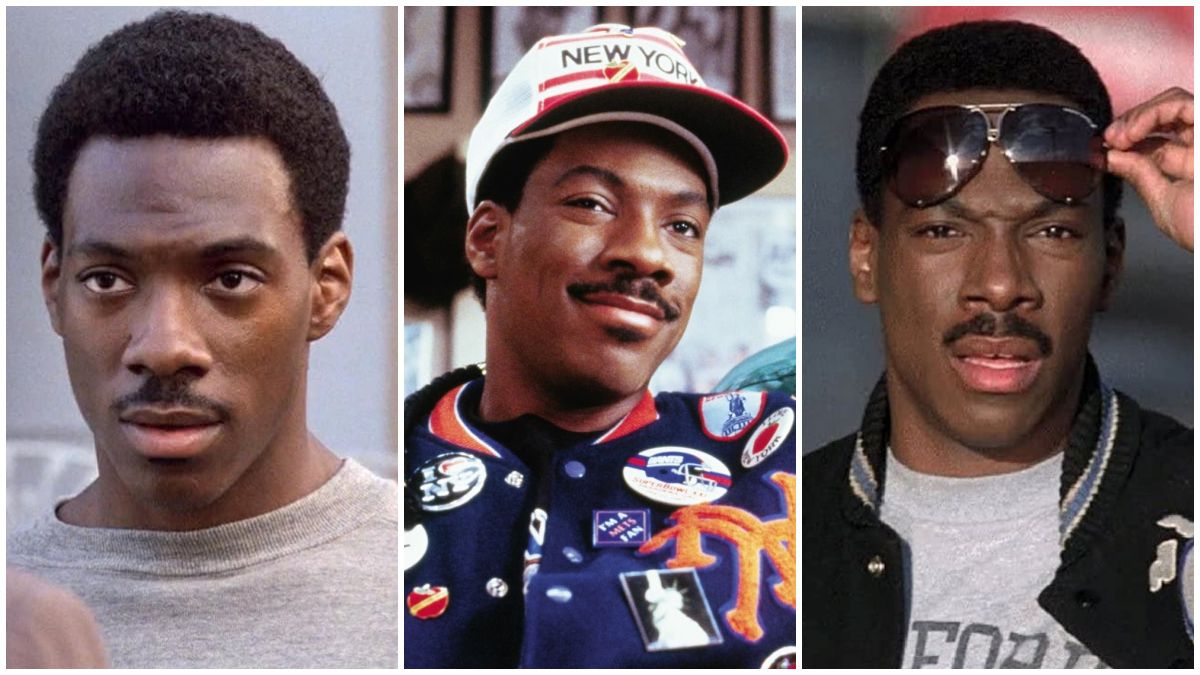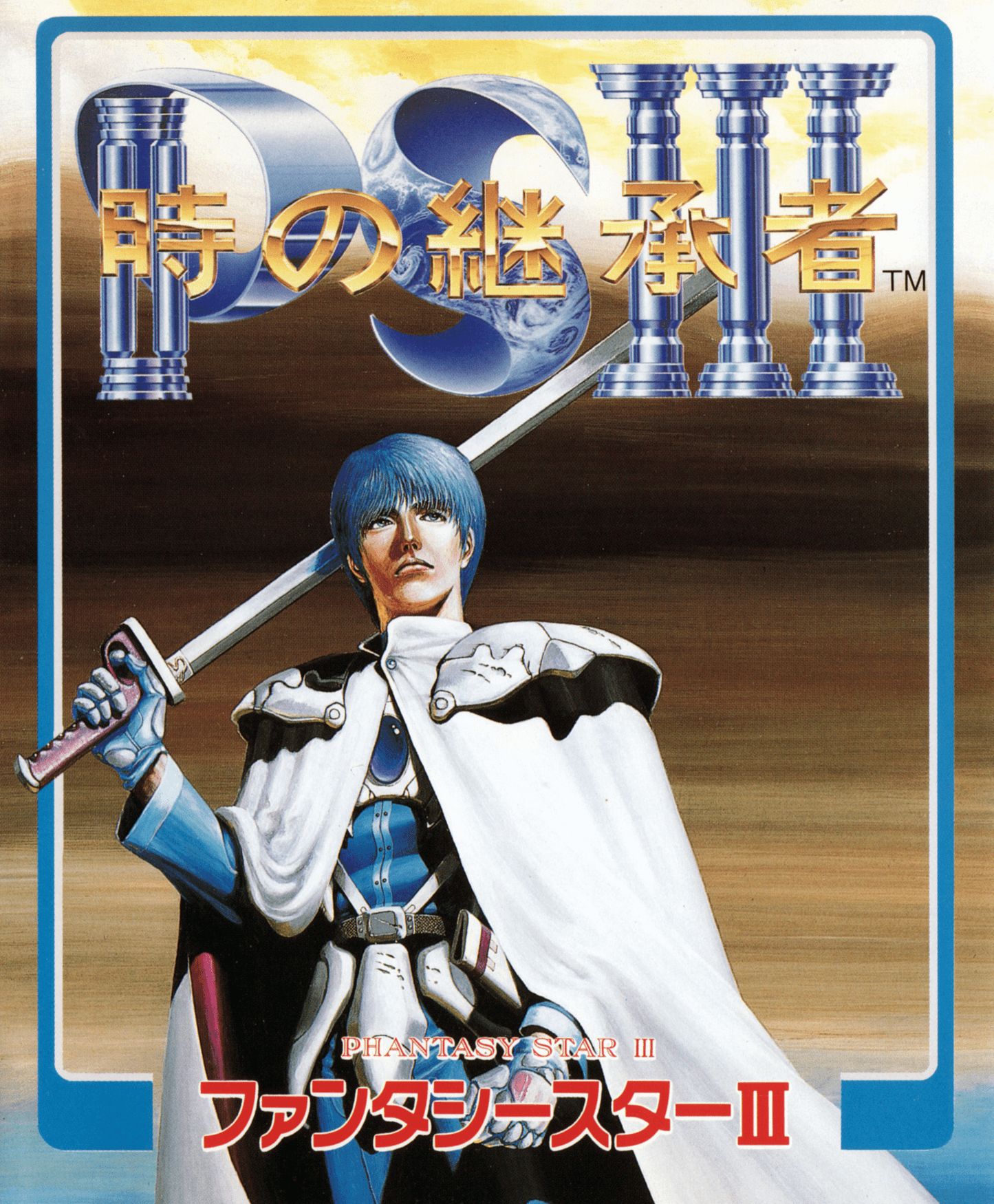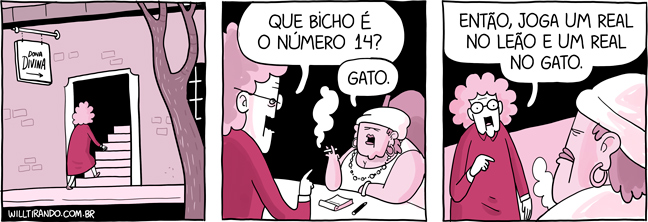Por um cinema que nos represente. Por um sistema que nos reconheça. Por um mundo que nos veja
Por Ducca Rios, Salvador, maio de 2025. O cineasta Senegalês Ousmane Sembène, principal realizador do moderno cinema Africano, afirmou: “A Europa não é o meu centro” em uma marcante entrevista para o documentário Francês “Caméra d’Afrique” (Ferid Boughedir, 1983). A postura crítica ao “Eurocentrismo”, bastante destacada em suas afirmações, e que pode também facilmente se […] O post Por um cinema que nos represente. Por um sistema que nos reconheça. Por um mundo que nos veja apareceu primeiro em O Cafezinho.

Por Ducca Rios, Salvador, maio de 2025.
O cineasta Senegalês Ousmane Sembène, principal realizador do moderno cinema Africano, afirmou: “A Europa não é o meu centro” em uma marcante entrevista para o documentário Francês “Caméra d’Afrique” (Ferid Boughedir, 1983).
A postura crítica ao “Eurocentrismo”, bastante destacada em suas afirmações, e que pode também facilmente se estender a uma crítica ao “Norte-americanismo” — pois ambos ainda são explicitamente hipervalorizados em detrimento desnecessário de perspectivas georreferenciadas em outras regiões, sobretudo as localizadas abaixo da linha do equador —, é alento e norte a ser seguido por gestores governamentais, produtores, roteiristas e diretores ativos nesta parte do planeta.
Com efeito, festivais como Cannes, Annecy, Veneza, San Sebastian, Karlovi Vari e Berlim são há décadas simbolicamente convencionados como os selos mais importantes para a carreira artística e comercial de filmes e séries, assim como dos seus realizadores.
Entidades como o European Audiovisual Observatory tornam-se determinantes, revistas como Variety e plataformas como Netflix e Amazon impõem-se como espaços cobiçados pelo mundo do cinema. Do mesmo modo, os grandes estúdios, distribuidores e agentes de vendas europeus e norte-americanos são assediados de forma avassaladora por africanos, asiáticos e latino-americanos nos salões dos grandes mercados como MIFA, Marché du Film e Venice Production Bridge. Enquanto prêmios como ANNIE, BAFTA, GOYA, CÉSAR e, logicamente, o OSCAR são disputados em uma competição que ultrapassa os limites da arte e encontra muito mais aderência na produção associada à bilionária indústria do audiovisual.
Entre os fatos em destaque mais recentes está o acontecimento, nos próximos dias, do renomado Festival de Cannes, que nesta sua 77ª edição homenageia o Brasil — fato alardeado pelo Ministério da Cultura, gerido por Margareth Meneses, e que fez vibrar a comunidade do cinema nacional. No entanto, vieram as seleções oficiais do festival e de suas mostras paralelas, Semana da Crítica, Quinzena dos Cineastas e ACID, a revelarem, para a surpresa de muitos, pouquíssimas obras originais do país laureado (somente O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, dentre os selecionados nas mostras principal e Un Certain Regard, de Cannes) e, ao mesmo tempo, uma grande maioria delas produzidas por europeus — os “donos da bola” — seguidas em número pelos filmes norte-americanos. O fato não é nenhuma novidade, como se pode verificar em artigo de 26 de abril de 1997, extraído da Ilustrada da Folha de São Paulo e assinado por Amir Labac:
“Cannes assume seu eurocentrismo na retrospectiva histórica da 50ª edição. O ciclo ‘Descobertas’ exibe 33 títulos de cineastas que o festival ajudou a catapultar para a fama internacional. Quase dois terços (21 filmes) são europeus. A tensa relação do evento com o cinema americano confirma-se pela escolha de apenas quatro filmes — todos independentes. A presença marginal da América Latina na história do festival é espelhada pela escolha de apenas dois títulos: o brasileiro ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’, de Glauber Rocha, e o mexicano ‘Maria Candelaria’, de Emilio Fernandez.”
Para além da quebra de expectativa e da decepção para com um júri claramente dedicado a emplacar sua visão eurocentrista, que deixou a Latino-América — e particularmente o “convidado de honra” — em posição periférica, é importante também questionar qual o grau de influência das grandes empresas distribuidoras do continente anfitrião na escolha dos filmes; afinal, o grande salão do Palais des Festivals et des Congrès não é exatamente como uma pista de corridas de cavalos em que se aposta e espera-se a sorte grande. Vendedores, distribuidores e grandes plataformas de streaming, assim como grandes estúdios, investem milhões de euros e dólares em produções que devem dar-lhes considerável retorno financeiro — algo, sem qualquer dúvida, catapultado ao redor do mundo pelos grandes festivais, Cannes ocupando o lugar de maior destaque dentre estes, e os grandes prêmios, sendo o Oscar o de maior prestígio, em um sistema que não apenas consolida o domínio da perspectiva “Euro-americana”, mas o reproduz ao estabelecer os critérios do que é o “bom cinema”.
Em tempo, a história revela a enorme importância e a trajetória de resistência dos grandes festivais europeus, que se dedicaram, em momentos decisivos, a apresentar corajosamente perspectivas artísticas e políticas inovadoras, mesmo durante conflitos bélicos devastadores como a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, guardamos aqui o devido respeito aos prêmios e às empresas europeias e norte-americanas, de modo que não cairei na armadilha conspiracionista alimentando pulgas atrás das orelhas dos leitores; no entanto, apresento neste texto uma visão alternativa que, para muitos, ainda pode ser enquadrada no patamar do sonho ou da utopia, mas que reflete um panorama que precisa ser considerado em um mundo que se redesenha a olhos vistos.
Por que nos submetermos, como artistas realizadores de cinema, a um sistema eurocentrista (e “norte-americanista”)? A pergunta, feita a si e ao mundo em 1997 por Ousmane Sembène — e que está incutida nos brados de Glauber Rocha ao criticar duramente o Festival de Cannes em 1971 e o de Veneza em 1980 — permanece atual, porém ganha uma razoável densidade em tempos em que o BRICS se fortalece enquanto bloco político e econômico a caminhar rapidamente para um protagonismo mundial.
Quando Glauber afirmou que Cannes seria um “festival colonialista” que tratava os filmes latino-americanos e africanos como “folclore exótico” e retirou da competição francesa a obra Cabeças Cortadas, acusando o comitê de ser eurocêntrico e elitista e de servir mais aos interesses comerciais da indústria cinematográfica ocidental do que à arte ou à liberdade de expressão dos cineastas do Terceiro Mundo — ou ao também criticar o Festival de Veneza por ter sabotado seu filme A Idade da Terra em favorecimento de filmes franceses e norte-americanos —, o mundo era diferente do que hoje vivemos.
Historicamente, o cinema foi uma das ferramentas mais eficazes do soft power ocidental. Desde o pós-guerra, os estúdios de Hollywood, com apoio direto do Departamento de Estado dos EUA, ocuparam o mercado global, padronizando formas narrativas, estéticas e valores culturais. Como sugere o sociólogo e teórico cultural jamaicano Stuart Hall, “O Ocidente não apenas constrói o ‘Outro’, ele também se constitui como o centro de conhecimento e poder, a partir do qual todos os outros são definidos e julgados.” (A Identidade Cultural na Pós-Modernidade).
Contudo, em 2025 a China firma-se como a maior potência econômica, e países antes considerados subdesenvolvidos — mesmo que possuam questões sociais persistentes e extremamente desafiadoras —, como Brasil, Índia, África do Sul e México, figuram como economias emergentes de enorme peso, enquanto seus líderes protagonizam movimentos importantes e conquistam cada vez mais espaços estratégicos na diplomacia internacional, que apontam para um novo paradigma “pluricentrado”.
E, já demonstrando dentro do universo da sétima arte transformações importantes decorrentes dessa nova ordem que se anuncia, a China, por exemplo, já conta com o maior mercado de cinema do mundo em termos de bilheteria interna, tendo ultrapassado os EUA em 2020, segundo informações da agência asiática Artisan Gateway. A Índia, com Bollywood, mantém a maior indústria de filmes do planeta em volume de produção e audiência; no mesmo movimento, a Nigéria, com Nollywood, segue em grande crescimento; e o Brasil, por sua vez, apesar das dificuldades estruturais e políticas, consegue manter uma produção constante, diversificada e criativa que vai desde o cinema tradicional a documentários e animações que comprovam amadurecimento narrativo e técnico e, ao mesmo tempo, trazem inovação.
O Sul global tem, portanto, todos os ingredientes para a constituição de um sistema alternativo: grandes mercados internos, um público jovem e ávido por novas representações, uma tradição narrativa própria e um desejo crescente de afirmação identitária. O desafio principal está em libertar o pensamento dos realizadores — e de toda a cadeia produtiva do cinema que existe nesse novo eixo —, que ainda se encontra aprisionado sob o domínio simbólico e estético da Europa e América do Norte. Superado isso, que é o mais difícil, o trabalho será o de criar redes de circulação, cooperação e reconhecimento que rompam com a dependência das plataformas, festivais e modelos ocidentais oriundos do hemisfério norte.
Essa proposta não é inédita. O movimento dos Países Não-Alinhados, nos anos 1960 e 1970, já pensava a cultura como parte de um projeto de soberania. O Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (FESPACO), criado em 1969 em Burkina Faso, permanece como símbolo de resistência e afirmação africana. No Brasil, o Cinema Novo e o tropicalismo desafiaram os cânones eurocêntricos, propondo uma estética do “inacabado” e do “precário” como forma de potência.
Inspirado por essa tradição e pela conjuntura atual, é urgente pensar em uma nova arquitetura global para o cinema: redes de coprodução entre países do Sul, plataformas de streaming com curadoria decolonial, circuitos de festivais que reflitam as realidades locais e prêmios que valorizem a diversidade estética e política das narrativas. Um sistema que, em vez de espelhar os padrões euro-americanos, os questione.
O fortalecimento de eventos como o Anima Mundi — que chegou a ser o segundo maior festival de animação do mundo e hoje, lamentavelmente, ainda não conseguiu se reerguer —, ou dos festivais de Xangai, Viña Del Mar, Guadalajara, Havana, BACIFI, Chilemonos, International Film Festival of India (IFFI), entre outros, que são em geral acompanhados de eventos de mercado importantes e estimulantes do ponto de vista de possibilidades de negócios em coprodução e licenciamento, é fundamental.
Como defende o pensador camaronês Achille Mbembe, “não há universalidade possível sem a restituição do múltiplo e do singular” (Políticas da Inimizade, 2016). O cinema do Sul global pode liderar esse movimento de restituição, oferecendo ao mundo novas formas de ver, contar e sentir — não como periferia do sistema atual, mas como núcleo de um novo paradigma por vir. Um sistema enraizado nas realidades, nos afetos e nos desafios do Sul. Um sistema que não apenas resista à lógica dominante, mas proponha caminhos inéditos. Um sistema que não aceite ser satélite, mas que se constitua como centro de um novo imaginário de um mundo multipolar.
Alguns pontos estratégicos:
- O fortalecimento ou criação de grandes festivais internacionais do Sul global, com relevância e legitimidade próprias;
- A articulação de prêmios cinematográficos alternativos aos circuitos euro-americanos, com critérios que valorizem estéticas descolonizadas;
- O fortalecimento de redes de coprodução, distribuição e exibição entre países fora do eixo tradicional;
- O desenvolvimento de plataformas de streaming independentes, com curadoria voltada à diversidade de narrativas;
- A promoção de políticas públicas nacionais e multilaterais que reconheçam o cinema como soberania cultural.
O post Por um cinema que nos represente. Por um sistema que nos reconheça. Por um mundo que nos veja apareceu primeiro em O Cafezinho.