Helô: o almoço é uma linguagem
Conheci Helô como bolsista de iniciação científica em 2011, tinha 18 anos e estava no segundo ano da graduação em comunicação social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ninguém interfonava ou tocava campainha para entrar na sua casa – as portas estavam sempre abertas. Às vezes ela estava no quarto, mas quase sempre tinha alguém na sala: um neto, uma nora, um filho, um cachorro, um colega que ia fazer outra reunião ou a Ivanilda, excelente cozinheira. Nas casas dela nunca teve escritório. A gente trabalhava na mesma mesa em que comia. Todas as reuniões, se não eram seguidas de um lanche, eram precedidas por um almoço. Uma vez, estávamos às gargalhadas, e o seu marido, o João [Carlos Horta], disse que nosso barulho estava atrapalhando. De imediato, ela respondeu: “Sinto muito, meu amor, não sei trabalhar de outra forma.” Nosso último encontro foi no final de janeiro e ela escreveu avisando: “vai ter almoço pq almoço pra nós é uma linguagem (…) Ninguém entende a gente!” Eu disse “casas” no plural porque ela estava sempre de mudança. Cheguei a conhecer três endereços, o último deles na Rua João Lira, no Leblon. A mesa grande, a cozinha ampla e as plantas enormes eram a estrutura de base em todas elas. Helô gostava de pendurar um cacho de banana verde para amadurecer na sala como se fosse uma escultura. Seu sonho era atingir uma estética “cafajeste” – palavra que usava com obsessão, e, com especial orgulho, para se autodenominar. Parecia que essas bananas penduradas em meio aos móveis e às obras de arte faziam parte dessa eterna tentativa de dessacralizar qualquer assunto, mesmo os mais sérios, tornando-os coisa barata ou papo de feira. The post Helô: o almoço é uma linguagem first appeared on revista piauí.

Conheci Helô como bolsista de iniciação científica em 2011, tinha 18 anos e estava no segundo ano da graduação em comunicação social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ninguém interfonava ou tocava campainha para entrar na sua casa – as portas estavam sempre abertas. Às vezes ela estava no quarto, mas quase sempre tinha alguém na sala: um neto, uma nora, um filho, um cachorro, um colega que ia fazer outra reunião ou a Ivanilda, excelente cozinheira. Nas casas dela nunca teve escritório. A gente trabalhava na mesma mesa em que comia. Todas as reuniões, se não eram seguidas de um lanche, eram precedidas por um almoço. Uma vez, estávamos às gargalhadas, e o seu marido, o João [Carlos Horta], disse que nosso barulho estava atrapalhando. De imediato, ela respondeu: “Sinto muito, meu amor, não sei trabalhar de outra forma.” Nosso último encontro foi no final de janeiro e ela escreveu avisando: “vai ter almoço pq almoço pra nós é uma linguagem (…) Ninguém entende a gente!”
Eu disse “casas” no plural porque ela estava sempre de mudança. Cheguei a conhecer três endereços, o último deles na Rua João Lira, no Leblon. A mesa grande, a cozinha ampla e as plantas enormes eram a estrutura de base em todas elas. Helô gostava de pendurar um cacho de banana verde para amadurecer na sala como se fosse uma escultura. Seu sonho era atingir uma estética “cafajeste” – palavra que usava com obsessão, e, com especial orgulho, para se autodenominar. Parecia que essas bananas penduradas em meio aos móveis e às obras de arte faziam parte dessa eterna tentativa de dessacralizar qualquer assunto, mesmo os mais sérios, tornando-os coisa barata ou papo de feira.
Muito rápido, Helô me elegeu como neta. Ela falava que avó era mais “estratégico” do que mãe, porque todos brigam com as mães e nunca com as avós. Durante todos esses anos, antes de começar o trabalho, ela perguntava: “E o coração?” No afeto, na escrita e na pesquisa, o pragmatismo era o mesmo. Numa das suas muitas tiradas diretas e objetivas – eu era ainda muito jovem para entender –, falou: “As pessoas mudam muito pouco e, quando mudam, demora muito!” Fosse um texto ou uma relação, ela sabia perceber o momento exato de “pular fora”. Quando a conheci, ela parecia estar sempre com pressa. “Já era!”; “Sai correndo!”; “Vaza!”, aconselhava quando eu relatava algum dissabor. Ela adorava partir para a próxima. Dizia que era por causa da idade, mas pressinto que tenha sido sempre assim. Helô precisava acabar logo os projetos porque tinha a cada vez uma nova paixão empurrando para frente. Ela corria também porque sabia da urgência de intervir no presente. Viveu assim até sua morte, no fim de março.
Fui sua assistente desde a gestação do livro Explosão Feminista: Arte, cultura, política e universidade, entre 2016 e 2017, antes de o projeto ser adquirido pela Companhia das Letras. Nessa época, eu híper jovem e insegura, passava noites sem dormir, morrendo de medo de abordar os temas polêmicos do momento para uma escala de leitores com alcance nacional. Ela me confrontava rindo: “Você tem medo de levar porrada? Só não leva porrada quem não se coloca!” Meu vício, aos vinte e poucos, era filosofia, e todo o dia eu chegava na casa dela com uma citação nova e um pavor de parecer que não estávamos bem fundamentadas. Ela dizia que eu tinha mesmo que ler muita teoria, mas “você lê para esquecer, nunca para repetir”, é só uma “musculação”. E, de fato, toda semana ela aparecia com fichamentos, mapeava com obsessão a produção das mais diversas correntes feministas, mas na hora de escrever transmitia tudo isso com uma apropriação cristalina.
Toda vez que lia uma frase muito carregada de conceitos herméticos, Helô perguntava à autora: “Mas afinal, o que você quer dizer?” Enquanto a pessoa falava com as suas palavras, ela anotava e dizia: “Então é isso, dava para dizer simples assim.” Com o bom humor e a franqueza de sempre, ela me acalmava à sua maneira: “Você acha que a gente tem alguma chance de fazer um livro bom correndo assim? Impossível! Mas prefiro fazer um livro ‘cafajeste’ agora do que um livro bom depois que a onda tiver passado. Esse livro é para as meninas [secundaristas] que estão ocupando as escolas, não para os seus professores de filosofia.” E foi com muita alegria, anos depois do lançamento, que conheci jovens de diferentes estados do país afiadas com a leitura desse livro descoberto por algumas delas ainda na adolescência.
O processo de escrita de Explosão Feminista, publicado em 2018, aconteceu durante as manifestações secundaristas Brasil afora. Eu frequentava escolas públicas cariocas ocupadas por adolescentes e mostrava a Helô as transcrições das conversas com os jovens. Ela se mostrava interessada. “Esquece um pouquinho Foucault e me conta das suas amigas, como foi a manifestação? Como vocês se comunicam?” Falávamos sobre tecnologias contemporâneas de articulação política utilizadas nas manifestações de junho de 2013 e também nas manifestações feministas de 2015 [1], como o uso de hashtag nas redes, e o microfone humano nas ruas, algo como um coro feito para reverberar a voz da liderança. Helô era tarada por palavras novas. Primeiro, foi um desafio enorme explicar para uma senhora que “já não tinha hormônios quando a internet chegou” o que era uma hashtag. “É um blog? Um coletivo? Mas quem cria?” Depois da hesitação, a assimilação veloz. Ela não podia mais ver uma nova moda ou palavra de ordem que chamava logo de hashtag.
Mais do que conhecer de perto um vasto repertório de teorias feministas, nesse processo aprendi sobre a importância de escutar. O livro conta com feministas de diferentes vertentes e experiências sociais, como mulheres brancas, indígenas, negras, lésbicas, cis, trans, asiáticas, protestantes, entre outras com distintos marcadores sociais. Além de ter coescrito dois capítulos, fui mediadora de muitos encontros com as autoras, que passavam por ouvir e propor escritas conjuntas. Helô falava muito sobre o fato de a academia ter problemas em dizer que não sabe algo. Com ela, aprendi a alegria de perder. Para realmente escutar é crucial pôr em risco os saberes e certezas. Em suma, “o próprio capital acadêmico” já adquirido. Não é fácil. O processo foi todo permeado por divergências e disputas, que, na sua linguagem apaixonada por gírias, eram grandes “tretas”. Quando a gente se saía bem na mediação, ela dizia que o nosso “psicológico” estava ótimo naquele dia.
Com o tempo, nossa relação foi se estreitando para além do trabalho. Em um determinado momento, creio que em 2017, nós duas estávamos lidando com o fim de relações amorosas – a dela de décadas e a minha de seis anos, que são décadas na vida de uma pessoa de 24 anos. Helô nunca hesitou em me receber um domingo qualquer para oferecer um colo. Ela tinha sempre um doce guardado para os netos que rapidamente ia parar na mesa, porque era ali que a escuta acontecia. Entre uma tirada e outra, sua frase de efeito da época era profetizar que em cinco anos todas as mulheres inteligentes virariam sapatão. Tínhamos muitíssimas divergências políticas também, algo natural para ela, que considerava que o “diálogo feminista de verdade não se faz sem embate”.
Assim que a conversa esbarrava na vida pessoal, Helô sempre falava do quanto fora apaixonada por João, seu segundo marido, morto em 2020. Ela “largou tudo: casa, prato, talheres” para viver com ele. João era o “lado B” da Helô. Em um dos nossos encontros, pedi a ele para me contar sobre os cineastas com quem trabalhou, e todas as histórias terminavam com o relato de extraordinárias discussões acaloradas e embriaguez. Enquanto Helô vivia elogiando as pessoas – fulano é “genial”, “maravilhoso”, “incrível” – João gostava de sublinhar o lado trágico da vida, mas não sem um humor ácido. Uma vez ela viajou e perguntei se estava com os netos – “o levante do fim de festa da velhice” – e ela respondeu que estava só com o marido, porque “matou a família e foi ao cinema”, parafraseando o título do filme de Julio Bressane [2] no qual imagens de assassinato são sucedidas por danças e marchinhas de carnaval. O cinema marginal é a síntese desse casal – e de um jeito de ver as coisas tão alegre quanto trágico, sem medo de encarar todas as contradições – que conjugava o olhar para a maravilha e o horror com a mesma intensidade. “Saudades do meu doidão” foi uma das últimas coisas que ela me disse.
Quando Helô estava prestes a tomar posse na Academia Brasileira de Letras, começaram a fazer dois documentários sobre sua vida. Fui incumbida por ela de um terceiro, capaz de explorar o seu lado “marginal”, a “Helô bandida”. Para encontrar essa faceta, perguntei quem ela seria se fosse uma personagem de ficção. A resposta foi “Dôra, Doralina”, protagonista do romance homônimo escrito por Rachel de Queiroz e lançado em 1975. Helô, tão conhecida pelo estudo dos irreverentes poetas marginais, foi fascinada por Rachel, por quem sentia uma “identificação anacrônica” [3], que só poderia ser um lado “C” ou “D” dela, tamanha a diferença radical entre as duas.
Dôra, Doralina é uma personagem dona de uma liberdade radical para o seu tempo, que nos anos 1940 e 1950 largou família e bons costumes para viver o teatro, a boemia e depois se casar com um homem inquieto e irreverente. Sempre fiquei me perguntando qual a aproximação possível entre elas. Talvez seja porque Dôra, como definiu a própria Helô, tenha sido um “dos perfis femininos das heroínas avant la lettre” da literatura de Rachel. Embora fosse tímida e sóbria, Dôra encontrou uma segurança feminina rara para a sua época – poderíamos dizer que foi “empoderada” – nas palavras da personagem: “Já agora o corpo era meu, para guardar ou para dar, se eu quisesse ia, se não quisesse não ia, acabou-se.” Ou possivelmente o fato de que ambas, em algum momento, encontraram na cultura uma razão para viver. Foi assim com Helô, que nos anos 1960 e 1970 conviveu com poetas e cineastas. Frequentou muito a casa de Lúcia Rocha, a Dona Lúcia, mãe de Glauber Rocha, com seus dotes especiais de cozinheira baiana. Logo após a morte de Glauber, no início dos anos 1980, leu no jornal um relato estarrecedor de Dona Lúcia sobre a falta de lugar para o acervo de escritos e memórias do seu filho. Helô ligou de imediato para Darcy Ribeiro e, juntos, conseguiram levar o acervo do cineasta para o Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro. Helô se dizia antes de tudo “empreendedora” e era repleta de histórias assim: resolvia – rápido – as coisas e, muitas vezes, a vida das pessoas.
Para a pesquisa do Rebeldes e Marginais – Cultura nos anos de chumbo (1960/1970), seu último livro, publicado pela editora Bazar do Tempo em março do ano passado, e que conta com a minha cocoordenação, frequentei todos os acervos disponíveis na cidade do Rio de Janeiro e na internet em busca de arquivos para o livro. O projeto editorial não pode abarcar tantos documentos, mas levantamos uma infinidade de materiais heterogêneos, capazes de compor uma verdadeira cartografia dos anos marcados pela ditadura brasileira. Para Helô, tudo interessava: matérias de jornal, críticas de filmes, manifestos, entrevistas com pessoas dos mais distintos campos do conhecimento. Ela costurava com precisão os elos entre estética e política que amalgamaram a produção cultural daquele momento.
Cheguei para ajudar na pesquisa em 2011 – a publicação do livro só ocorreu mais de uma década depois, após o projeto ser “ressuscitado” por sua editora, Ana Cecilia Impellizieri Martins. Naquele momento, eu, ainda no início da graduação, estava acostumada a ouvir professores dizendo que era preciso se aprofundar em algo específico. Helô fazia diferente. Preciso confessar que por alguns anos desconfiei da validade do seu método. Depois, compreendi a relevância de um modo cartográfico de estudo, que, em vez de esmiuçar um tópico, se esforça em traçar, de fato, um mapa, o desenho da superfície que molda os saberes e poderes disparadores dos acontecimentos, misturando assuntos e ideias que circundam esse assunto. Helô teve a elegância rara de transmitir um método sem nunca ensinar. Ela amava o não saber e preferia ser a amiga, em vez da professora.
Guardo muitas recordações dos anos que trabalhamos juntas. Certa vez, cheguei em sua casa num sábado e a encontrei sozinha deitada no sofá fazendo nebulização. Quando ela retirou a máscara, lá estava o contorno impecável do batom vinho meio arroxeado – ela nunca abriu mão do batom, em qualquer situação. Assim como eu, ela era alérgica a pó, de modo que começou a se desfazer dos seus livros no final da vida. Gostava de praticar o desapego, mas tinha resistência em doar as obras de poesia e os títulos de culinária – eu já disse que a mesa e os almoços eram especiais para ela. Também nunca aceitou plenamente as recomendações de sua médica, Margareth Dalcolmo, para que evitasse a presença dos três cachorros (Bob, Joana e Manoela) em seu quarto. Conheço bem essa história porque minha avó (verdadeira, a Mareda) mantém – assim como Helô mantinha – um amor radical pelos animais. Mas há diferenças. Minha avó brinca que, um dia, vai “morrer de cachorro”, porque eles vão pular e ela vai cair, ou sei lá o quê, ciente da fragilidade do seu corpo de noventa e poucos anos. Já Helô nunca considerou seus bichinhos uma ameaça – chamava-as de “minhas meninas”. De todo modo, prefiro pensar que, diante das outras doenças que a acometeram nos últimos anos, “morrer de cachorro” não seria exatamente um problema. No seu gosto cafajeste – que sonhava em ser “cachorra” e, de preferência, “vira-lata” – acho que ia gostar dessa definição. É um jeito de morrer de amar demais, morrer porque não sabia bem como fechar as portas.
[1] Tratava-se das manifestações realizadas contra o projeto de Lei 5069, de autoria de Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara dos Deputados. O projeto dificultava o aborto legal em caso de estupro. Esess protestos, que ficaram conhecidos como “Fora Cunha” e as manifestações de junho de 2013 são abordados nos capítulos Rua e Rede, que abrem o livro Explosão Feminista (Companhia das Letras, 2018).
[2] No livro Rebeldes e Marginais: Cultura nos anos de chumbo (1960-1970) (Bazar do Tempo, 2024), Heloisa Teixeira apresenta análises de filmes do Cinema Marginal que marcaram a cultura brasileira na década de 1970.
[3] Heloisa comenta a amizade e a obra de Rachel de Queiroz nos ensaios reunidos no livro Rachel Rachel, publicado pela editora HB em 2016
The post Helô: o almoço é uma linguagem first appeared on revista piauí.







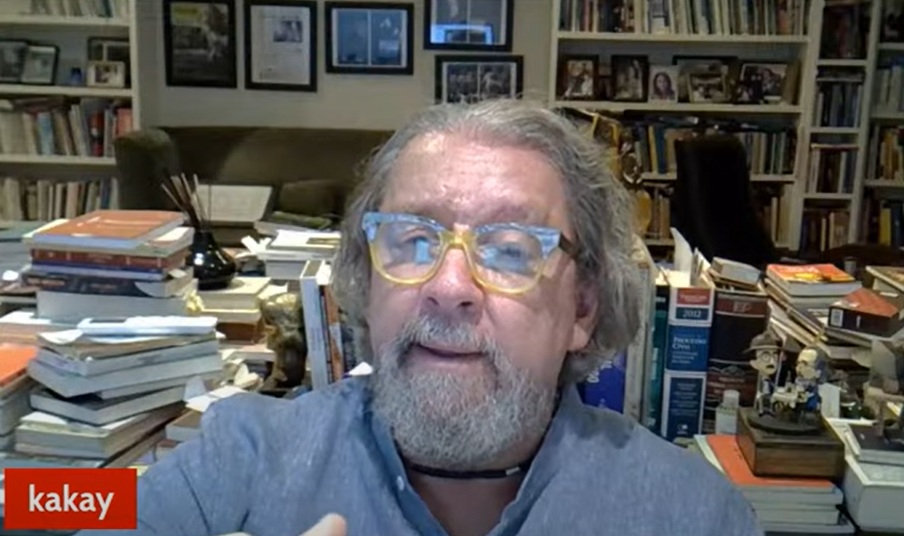








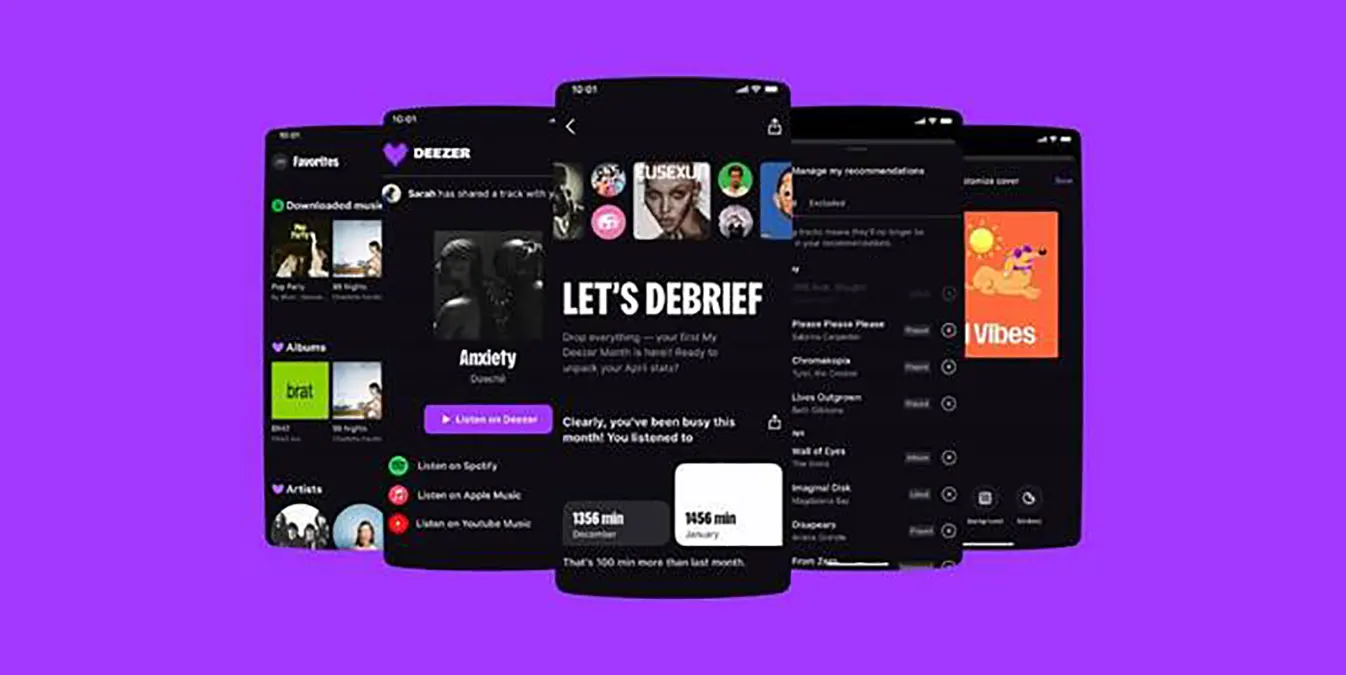


































.jpg)








![[Alerta do leitor] Esfera dando um jeito de proibir transferência de pontos originados por compras bonificadas para parceiros aéreos…](http://meumilhaodemilhas.com/wp-content/uploads/2025/04/Esfera.png)








