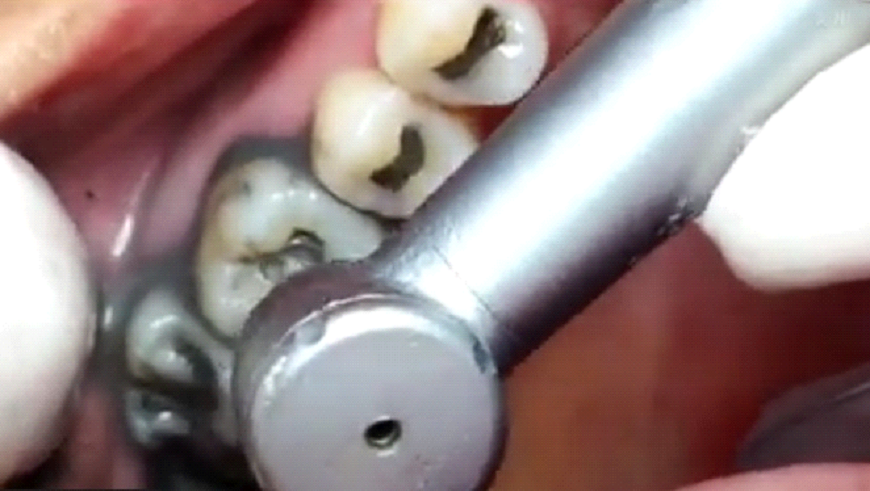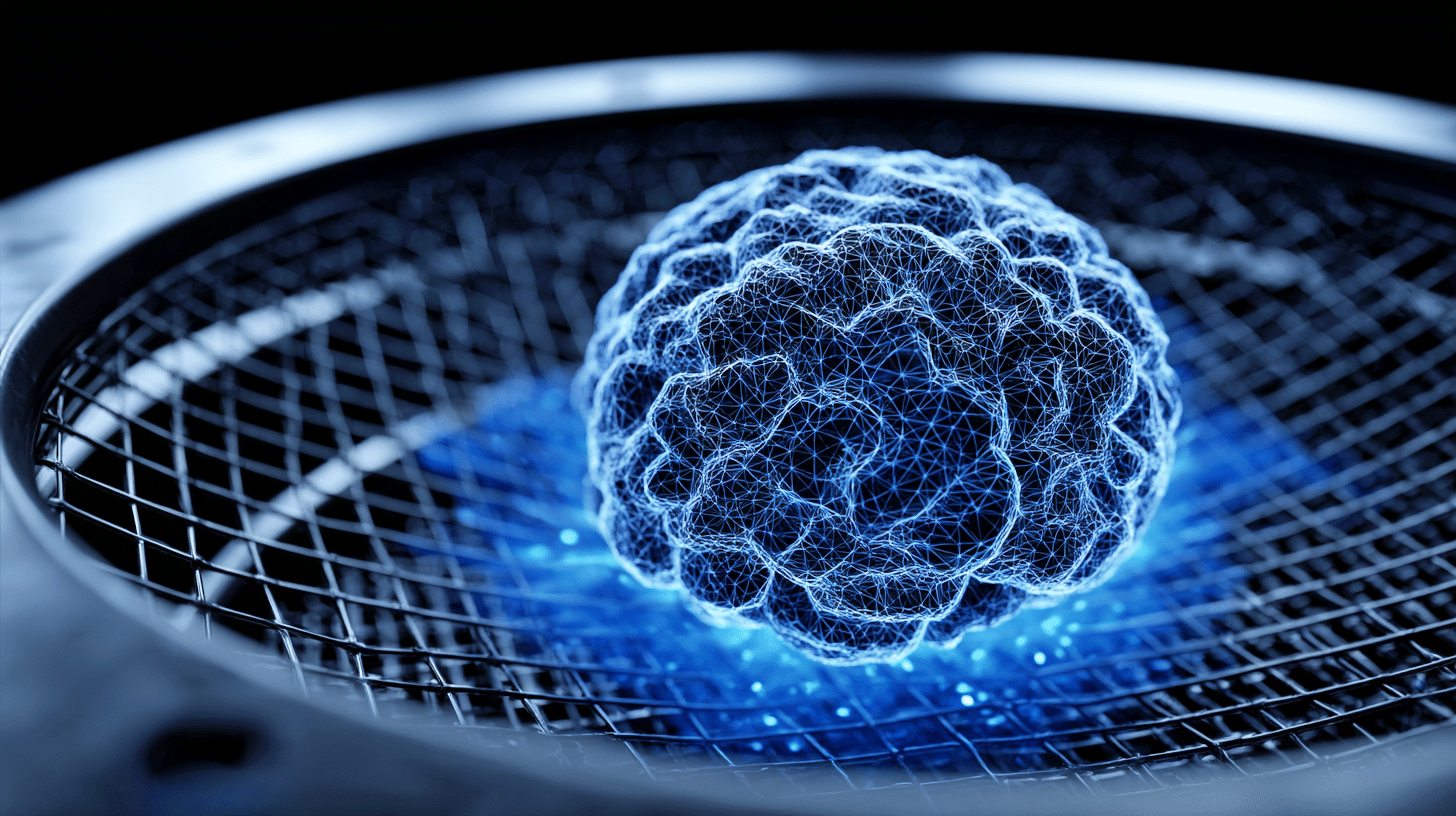A cada um o seu Apagão
[Error: Irreparable invalid markup ('') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.] Passara o fim-de-semana além-Trancão, em pinturas - “não sejas um Zé-Ninguém, pinta com Robbialac”, anunciava, há décadas, o Manniche original - a retocar refúgio, que a vida não é só Olivais. E assim nesta segunda-feira desde a alvorada fora apupado por músculos esquecidos ou até mesmo desconhecidos e reencontrara velhas articulações, estas pejadas de azedume para comigo… (jpt pintor) Acabrunhado com esse desamor endógeno, protelei as obrigações de burocracia digital que tinha em mente - “não faças já o que podes fazer daqui a bocado”, item sempre a encimar o decálogo -, e manhã afora deixei-me a remexer nos textos do meu “Sentido Obrigatório”, livro que quero fazer suceder ao “Torna-Viagem”. O que farei logo que este alcance o até mítico estatuto comercial de half-demon, 333 exemplares vendidos - e para tal só me falta impingir mais vinte e poucos livros a incautos interessados. Aproximando-se o meio-dia, mal notei uma ligeira flutuação eléctrica no ecrã do computador, à qual até quis desatentar. Mas ficou-me a moinha, inquisidora. E, interruptor à mão, constatei o corte de energia. Logo acorri a esse recanto mágico, dito “quadro eléctrico” - durante décadas monopólio do meu pai, o Camarada mas também Engenheiro Pimentel (electrotécnico, de barragens, já agora, pois é matéria que o dia veio a realçar). Estava este opaco, mais ainda do que a minha ignorância sempre o entende. Desesperei, percebendo ser o corte devido a ter-me eu esquecido de pagar a conta - essa que já me chega faseada, em “suaves prestações”, tamanho o saque mensal de que sou alvo. E assim, neste final de mês em penúria, mesmo, “terei de pagar a conta toda!!!”, pois por falta do meu cumprimento será suspenso o plano acordado. Fiquei despassarado - “agalinhado” até - trôpego sem-rumo entre cozinha e corredor, esvoaçando até à sala, irrompendo no escritório para logo volver ao mesmo inconsequente desarrumo, traduzindo em bom português vernáculo, peludo, o conradiano moribundo "The horror! the horror!". Enquanto nesses despreparos, recebi telefonema da minha filha - lá das “avenidas novas” - a combinar um encontro de despedida, pois ao fim da tarde regressaria à Genebra na qual enceta a sua carreira profissional. Balbuciei paternal - em linguagem já mais própria (passe o galicismo) - um adiar da resolução, face à premente questão que me monopolizava. Mas depois, eureka!, acorri ao patamar para … deparar com os elevadores imóveis! Foi júbilo! o que senti, o corte era geral. O mal estava espalhado pela aldeia…!!! Assim acalmado enrolei um cigarro, sorridente no suave espanto “há quantos anos que não há uma avaria destas”, coisa que cá nos Olivais só lembro associada aos tempos do fedor da Petroquímica. Esfumaçava ainda quando acolhi mensagem, oriunda da agora gentrificada vizinha Chelas, um queixume de por lá ter acontecido o mesmo. E logo de seguida a Carolina avisou-me ter o apagão chegado à Av. de Roma. “Grande bronca!”, concluí. E diante de tal extensão, sábio, constatei a causa óbvia: “os russos vêm aí!”, um blitzkrieg encetado por ciberataque - tese similar àquela que pouco depois, mais lento do que eu, um ministro aventou, e se é ministro saberá do que fala, sabe da poda… O telefone engasgava-se, a internet esmaecia - “como estarão as nossas antiaéreas?”, atemorizei-me, fiel ao valente ribatejano Major Alvega. Mas para logo regressar à placidez pacifista, avessa à neoliberal “corrida às armas”, imposta pela ditatorial clique eurocrática. Pois todo esse resto será inútil, lembrando-me daquilo dos nossos tanques rolls-royce Leopard, esses que quando deles foi necessário indagar soube-se que dos 37 comprados só 2 funcionavam. E nem havia munições… Os ministros sabem da poda (“Zezé, Flávio, então!, não critiques…”). Enfim, angustiado pela ideia dos russos entregarem o poder a uma Junta Militar encabeçada pelos generais Costa e Branco, avancei ao frigorífico enfrentando algumas Argus - aprazível e barata cerveja do Lidl. “Mais vale bebê-las enquanto estão frias”, ajuizei, até porque já (quase) passava do meio-dia. Pois estava, apesar de tudo, coriáceo, veterano, recordando com sorriso saudoso os recorrentes apagões em Maputo - e já nem falo das longas estadas no “mato” sem electricidade. Mas depois, e porque noblesse oblige, avisei-me de não ser curial deixar-me ali a beber sozinho àquelas horas ainda matutinas. Por isso enfrentei o velho fogão da mãe Marília - que dele era proprietária mas nunca, jamais, escrava, friso -, precioso agora pois dotado de quatro bicos e concomitante fogão alimentados a gás! Cozi batatas do produtor - as remanescentes, algumas até já engelhadas, do último lote que a boa amiga Sónia sempre me traz. Depois salteei-as, tal como o fiz a uns bróculos, decanos, que aloiravam no frigorífico, os quais seguiram junto a outros nacos de vegetais, de espécies e raças já algo indiscerníveis,


Passara o fim-de-semana além-Trancão, em pinturas - “não sejas um Zé-Ninguém, pinta com Robbialac”, anunciava, há décadas, o Manniche original - a retocar refúgio, que a vida não é só Olivais. E assim nesta segunda-feira desde a alvorada fora apupado por músculos esquecidos ou até mesmo desconhecidos e reencontrara velhas articulações, estas pejadas de azedume para comigo…

Acabrunhado com esse desamor endógeno, protelei as obrigações de burocracia digital que tinha em mente - “não faças já o que podes fazer daqui a bocado”, item sempre a encimar o decálogo -, e manhã afora deixei-me a remexer nos textos do meu “Sentido Obrigatório”, livro que quero fazer suceder ao “Torna-Viagem”. O que farei logo que este alcance o até mítico estatuto comercial de half-demon, 333 exemplares vendidos - e para tal só me falta impingir mais vinte e poucos livros a incautos interessados.
Aproximando-se o meio-dia, mal notei uma ligeira flutuação eléctrica no ecrã do computador, à qual até quis desatentar. Mas ficou-me a moinha, inquisidora. E, interruptor à mão, constatei o corte de energia. Logo acorri a esse recanto mágico, dito “quadro eléctrico” - durante décadas monopólio do meu pai, o Camarada mas também Engenheiro Pimentel (electrotécnico, de barragens, já agora, pois é matéria que o dia veio a realçar). Estava este opaco, mais ainda do que a minha ignorância sempre o entende. Desesperei, percebendo ser o corte devido a ter-me eu esquecido de pagar a conta - essa que já me chega faseada, em “suaves prestações”, tamanho o saque mensal de que sou alvo. E assim, neste final de mês em penúria, mesmo, “terei de pagar a conta toda!!!”, pois por falta do meu cumprimento será suspenso o plano acordado.
Fiquei despassarado - “agalinhado” até - trôpego sem-rumo entre cozinha e corredor, esvoaçando até à sala, irrompendo no escritório para logo volver ao mesmo inconsequente desarrumo, traduzindo em bom português vernáculo, peludo, o conradiano moribundo "The horror! the horror!". Enquanto nesses despreparos, recebi telefonema da minha filha - lá das “avenidas novas” - a combinar um encontro de despedida, pois ao fim da tarde regressaria à Genebra na qual enceta a sua carreira profissional. Balbuciei paternal - em linguagem já mais própria (passe o galicismo) - um adiar da resolução, face à premente questão que me monopolizava. Mas depois, eureka!, acorri ao patamar para … deparar com os elevadores imóveis! Foi júbilo! o que senti, o corte era geral. O mal estava espalhado pela aldeia…!!!
Assim acalmado enrolei um cigarro, sorridente no suave espanto “há quantos anos que não há uma avaria destas”, coisa que cá nos Olivais só lembro associada aos tempos do fedor da Petroquímica. Esfumaçava ainda quando acolhi mensagem, oriunda da agora gentrificada vizinha Chelas, um queixume de por lá ter acontecido o mesmo. E logo de seguida a Carolina avisou-me ter o apagão chegado à Av. de Roma. “Grande bronca!”, concluí. E diante de tal extensão, sábio, constatei a causa óbvia: “os russos vêm aí!”, um blitzkrieg encetado por ciberataque - tese similar àquela que pouco depois, mais lento do que eu, um ministro aventou, e se é ministro saberá do que fala, sabe da poda…
O telefone engasgava-se, a internet esmaecia - “como estarão as nossas antiaéreas?”, atemorizei-me, fiel ao valente ribatejano Major Alvega. Mas para logo regressar à placidez pacifista, avessa à neoliberal “corrida às armas”, imposta pela ditatorial clique eurocrática. Pois todo esse resto será inútil, lembrando-me daquilo dos nossos tanques rolls-royce Leopard, esses que quando deles foi necessário indagar soube-se que dos 37 comprados só 2 funcionavam. E nem havia munições… Os ministros sabem da poda (“Zezé, Flávio, então!, não critiques…”).

Enfim, angustiado pela ideia dos russos entregarem o poder a uma Junta Militar encabeçada pelos generais Costa e Branco, avancei ao frigorífico enfrentando algumas Argus - aprazível e barata cerveja do Lidl. “Mais vale bebê-las enquanto estão frias”, ajuizei, até porque já (quase) passava do meio-dia. Pois estava, apesar de tudo, coriáceo, veterano, recordando com sorriso saudoso os recorrentes apagões em Maputo - e já nem falo das longas estadas no “mato” sem electricidade. Mas depois, e porque noblesse oblige, avisei-me de não ser curial deixar-me ali a beber sozinho àquelas horas ainda matutinas.
Por isso enfrentei o velho fogão da mãe Marília - que dele era proprietária mas nunca, jamais, escrava, friso -, precioso agora pois dotado de quatro bicos e concomitante fogão alimentados a gás! Cozi batatas do produtor - as remanescentes, algumas até já engelhadas, do último lote que a boa amiga Sónia sempre me traz. Depois salteei-as, tal como o fiz a uns bróculos, decanos, que aloiravam no frigorífico, os quais seguiram junto a outros nacos de vegetais, de espécies e raças já algo indiscerníveis, que ali residiam. Agreguei-os com um pacote de molho de cor branca, abandonado na desguarnecida despensa. Tudo aquilo crepitou ao lume, o gás de cozinha rebrilhando pois sentindo o apreço redobrado que lhe votava eu. E almoçarei uma pratada daquilo, com as tais Argus.
Entretanto esparsas mensagens haviam furado o muro imposto pelos russos. Vizinho dotado de transístor avisou ser internacional o apagão, abarcando a Península, a França Macroniana, a Itália malgré Meloni, e porventura alhures. E que se poderia esperar até 72 horas pela resolução da disfunção eléctrica. Retornei à esvaziada despensa, sosseguei-me diante do parco rancho residente: massa e arroz, alhos, alguns já chochos, confirmei-o. Além de favas, rissóis (do Lidl, pois são bons), porco, frango e almôndegas, tudo pronto a maturar no desligado congelador, “às carnes comê-las-ei quando lhes germinarem os vermes”, uma infundice olivalense, estrategizei. Apenas me angustiei com a escassez de mortalhas, défice que teria de resolver durante o dia.

Saciado e sossegado, refastelei-me na leitura. Desde há muito que sei ser um leitor Pécuchet, - só mais tarde, já crescido, me encontrei afinal também Pnin - em constante azáfama entre-livros, flanando ali e acolá, com afinco sublinhando, tirando notas, pouco me acrescentando, quase nada retendo, muito incompreendendo. Mas ufano nisso.
Terminei, pois pouco me faltava, a interessante colecta “Pedalando Moçambique…” de Manuel de Araújo, o presidente de Quelimane - curtos textos relevantes para compreender o processo no país. “Tenho de escrever sobre o livro”, logo pecucheteei… E avancei páginas num do excelente Afonso de Melo - olivalense de gema -, o “Se Tivesse Sido Eu a Inventar Deus”, crónicas convulsas como o devem ser, entrelaçando o mundo. No qual ele, jornalista desportista de formação - com a maldade benfiquista, coisa que lhe é mais forte do que ele próprio -, nos avisa “Se algo o futebol traz às nossas vidas, são histórias inimitáveis de vida e morte que romancista algum seria capaz de inventar. Por isso teimo em escrevê-las.” (61), e como as escreve, as urde! Entusiasma-me! “Vem aí a Feira do Livro, tenho de blogar sobre este tipo, a ver se convenço alguém a ir até ao estendal da sua editora, Âncora, a comprar-lhe os livros”, tão melhores do que o rame-rame de letra grande e espaçada que por aí abunda…, e assim me pecucheteei de novo.
Nisso despertei, estremunhado: fora supreendido por inusitada sesta. Talvez devida ao silêncio urbano, decerto que alimentada da pançada vegetariana ombreada pelas Argus. Lamentei-me, ando tão insone que uma sesta antecedendo uma noite sem luz pareceu-me condenação a um monótono monólogo nocturno, arrolando angústias.

Não sei do paradeiro do xipefo que tínhamos: largado em Maputo?, armazenado onde neste rumo de divórcio e migrações? E aqui da avoenga lamparina nada sei como a fazer funcionar, tornada desperdício ou, pior, bibelot? Como tal fui pesquisar velas para acompanharem a anunciada vigília - apenas encontrei algumas decorativas, que me seriam suficientes. E lembrei-me das visitas abastecedoras à fábrica de velas, obrigatórias nos cíclicos passeios na pequena Suazilândia, tempos de felicidade, minha. (“Não é um bocado maricas um gajo dizer que é/era feliz?”, perguntei-me. “É”, respondo-me, “gajo que é gajo não reconhece uma coisas dessas. Mas aqui sozinho ninguém me ouve…”).
Fiz um café - cá em casa é com cafeteira - e encetei o “O Jogo da Glória” de Carlos Bobone, emprestado e louvado por amigo, parecendo-me prometedor. Até bastante. Sabe-se lá como entrou-me uma mensagem na Whatsapp, um grande amigo moçambicano a perguntar-me, de lá, “como estás a viver o apagão?”, “qual monge copista!”, exagerei-me em mensagem que terá seguido horas depois. E, passado um bom tempo, também entraria mensagem filial informando que o seu voo fora adiado por dois dias.

Da livraria fronteira trouxera a revista grátis “Somos Livros” - e está de parabéns a Bertrand, pois dedicou a boa edição à emigração, enfrentando esta pérfida pantomina dita “nacionalista”, patética num país de emigrantes resmungando com os imigrantes. Breves textos assisados: o historial dos fluxos migratórios no país, súmula dos nossos escritores emigrados, escritores bilingues, entrevistas com imigrados. E um interessante nada proustiano texto, “Madalena, qual madalena” de Ricardo Fellner, um tipo que escreve bem sobre comida, louvando a “cosmopolitização” da gastronomia lisboeta, saudando o afluxo de múltiplos usos culinários à cidade. Gostei, guloso.
Mas também resmunguei - pois Fellner força a nota, nesse apreço pelo “multicultural comensal”. Por um lado, lembrei-me do “Com Poejos e Outras Ervas”, o delicioso livro de Galopim de Carvalho a propósito de comida alentejana que ando a ler. E no qual o autor cita a magna Maria de Lurdes Modesto, a qual se dizia - já em 1982 - “em prol da revitalização do nosso património culinário e contra a insidiosa invasão de uma certa cozinha internacional, impessoal, soturna e monótona, que já alastrou por muito restaurantes e também ameaça entrar-nos pela casa dentro” (cit. in p. 19), e não antevia então a Senhora estas vias da “entrega ao domicílio”… Sim, que fique claro, o meu problema não começou com os restaurantes nepaleses e os demoníacos quebabes, mas sim na praga de pizarias e quejandas estrangeirices, deixando um homem sem ter onde comer um bitoque encarquilhado e um panado nervoso embrulhado em folha velha de alface. Para além da comida de tacho, a escassear. Já para não falar de boas açordas.
E por outro lado, na breve revista, Fellner também não refere a multiplicidade da oferta que se dissemina - é simpático, político, que louve ele um belíssimo e esconso restaurante chinês “da tia…”. Mas assim esconde a imensa tralha de restaurantes péssimos que se vão instalando (e os Olivais que o digam…). Protegidos, potenciados, e é esse o cerne da questão, pela ligeireza das concessões de exploração, acicatada pela “clandestinidade” dos verdadeiros investidores - o micro-negócio como evidente associação de macro-negócios -, e pela placidez das fiscalizações, tão mais agrestes se face aos “empreendedores” gastronómicos (e não só) portugueses.
Sendo dia de apagão, não me pus com grandes reflexões… Mas este elogio à “multi-cozinha” despertou-me o apetite. Fui assim às estantes buscar o Amartya Sen, que também gosta de aludir às transições culinárias nos seus esforços para ensinar a pensar esta pobre gente do mundo. Peguei no magistral - e de leitura tão simples - “Identidade e Violência: a ilusão do destino”, para lhe reler mais do que os meus sublinhados. Trechos clarividentes na crítica aos arcaísmos xenófobos, ao “incómodo” diante dos ditos “outros”. Mas também ao mito da “identidade singular” - tão presente na miséria afascistada mas também naquilo que escorre na cloaca intelectual destes “decoloniais” d’agora: “Muitos pensadores comunitaristas tendem a argumentar que a identidade comunal dominante é apenas uma questão de autocompreensão, e não de escolha.” (33) e por aí afora, desnudando estes “neo”-marxistas a agitarem o mito da “alienação”.
Nisto irritei-me, pensando num país que em menos de uma década quadruplicou o número de imigrantes e não tem uma disciplina obrigatória de antropologia no ensino secundário… Nem nos deixa a nós, antropólogos, ensinar a série de disciplinas de “humanísticas”, ao contrário do que acontece com licenciados nas ciências “primas” - numa imensa inércia legislativa, talvez só compreensível pelo disparatado rumo da nossa corporação profissional, tão presa a questões espúrias… “Tenho de blogar sobre isto”, iluminei-me em pleno apagão. E, lembrando-me da escassez de mortalhas, carreguei o livro - que não é de antropólogo mas é como se fosse - e um bloco de notas, e rumei à rua, em busca de esplanada onde esfumaçar e esboçar.

À porta de casa encontrei simpática vizinha, vinha algo ajoujada. Estivera a comprar um rádio a pilhas e lanternas, tinha tido 24 clientes antes dela: “os chineses estão a facturar”, sorria. Contou que antes ainda apanhara um UBER mas o pobre condutor indostânico seguia desprovido não só de GPS como do mínimo inglês, tinha sido difícil ensinar-lhe o caminho para os Olivais. E mais sorria.
Segui até ao café de bairro que agora me é coito, esperando-o vazio local para esboçar eu uns postais mais resmungões. Encontrei-o… apinhado. Como nunca o vira, pelo menos desde a década de 80. Em algumas mesas congregava-se a minha “nova guarda”, vizinhança feita amiga nestes anos, entre ela escorriam imperiais e não só, além de dichotes. Quatro gerações conjugadas em inesperado dia de descanso.
E a restante esplanada ocupada, em pé gentes do bairro que nunca vira…Entreconversando-se - “dantes o bairro era assim!”, dizia, sorridente, um desses neófitos, cinquentão. “Antes da internet”, não disse eu. Passou família oriunda do supermercado, o seu “chefe”, responsável, trazendo dois pacotes do precioso papel higiénico, provocando a gargalhada geral, pobre homem… Chegou alguém dizendo provir do Parque das Nações - essa Crimeia dos Olivais - e que por lá estava também assim, festivo. Ou seja, tudo gauleses de Goscinny, desses sem conhecerem o medo … dos russos.
Mais imperiais rodaram, alguns amendoins, até tremoços, um dos fregueses desconhecidos - entre os seus, simpático, em pé de cerveja da mão - clamou ter tido acesso ao “Expresso”, onde se dizia que a luz seria reposta às 20.30. Respondi-lhe, do meu poiso, “e acredite, se vem no Expresso” (glosando a velha publicidade) e todos se riram - tamanho o descrédito que o vetusto jornal veio adquirindo. Entretanto alguém lembrara que o “super”-debate televisivo Santos-Montenegro fora adiado. “Empate”, constatei, concluindo “irão a penaltis”… Mas o assunto mais relevante, nesta época eleitoral, era mesmo a opção pelos fogões eléctricos e as vantagens dos conservadores, que se mantinham fiéis ao gás. Ou as “valências” (como em tempos foi moda dizer) da coligação gás-electricidade ao fogão, qual Bloco Central…
O ocaso aproximava-se, para não desperdiçar as réstias do Sol nos respectivos preparos todos partiram para casa, um pouco mais animados do que o usual. De súbito recebi um inesperado telefonema: a minha filha estava em Santa Maria, assistira a um atropelamento de uma jovem adolescente, acompanhara-a na ambulância - “consegui chamá-la com o meu telefone suíço”, disse. Estava nervosa, como é natural, ainda que os ferimentos da rapariga não fossem graves, apesar de vistosos. E “isto está cheio de gente vinda de acidentes”, acrescentara. “Estás nas Urgências, isso é normal”, amornei. E segui, impante de orgulho com a extrema cidadania da minha filha - “puxou à mãe”, sempre o digo.

Meio às escuras, arrastei-me em casa, enquanto família e amigos me foram noticiando o retorno eléctrico na cidade. Aqui encontrei luz às 22.28 h. Liguei a televisão para saber mais, viria a ouvir o Primeiro-Ministro a perorar um nada substantivo para a televisão, sito na Alfredo da Costa, para onde se deslocara com evidente despropósito.
Depois ouvi Mira Amaral a comentar o caso do dia. Sim, irrita-me a memória que dele tenho. Não só por ter sido ministro de Cavaco Silva, até ao estertor, doloroso, do cavaquismo. Mas, e acima de tudo, devido àquela sua arenga dos eucaliptos como “petróleo verde”. Obscurantista, termo apropriado para dia de apagão. Mas foi, neste dia, iluminador, e não só por ter evocado as velhas dinastias de engenheiros da EDP, que - esses sim -, sabiam da poda. Explicitou, com sageza, o problema técnico havido. Desnudou, sem cerimónias, o despreparo nacional. E escancarou a realidade que tantos se recusam a assumir: desde há muito que os ministros (do PS e do PSD) não sabem das respectivas podas e não se fazem, nem querem fazer, rodear de quem saiba.
Neste assunto. Como em tantos outros, como bem sabe quem olha para este pungente país. Ali, na poltrona, recordei, em azedo vislumbre, alguns dos vários medíocres enfatuados que cruzei na vida. E outros que agora “comentam” na televisão, remunerados para fazerem opiniões alheias, depois das tristes e incompetentes (ou, pelo menos, neutrais) figuras governativas que assumiram.
Satisfeito com a recomposição energética, com o regresso ao “novo normal” - como fora definido - avancei para o Canal 11. Onde 5 indivíduos, entre os quais Carlos Freitas (que sabe da sua poda) e Cândido Costa, um simpático patusco, discutiam com afinco as virtudes e possíveis futuros do grande Viktor Gyokeres. Premi o “ver do início” essa conversa.
E fez-se-me luz. No dia do apagão.