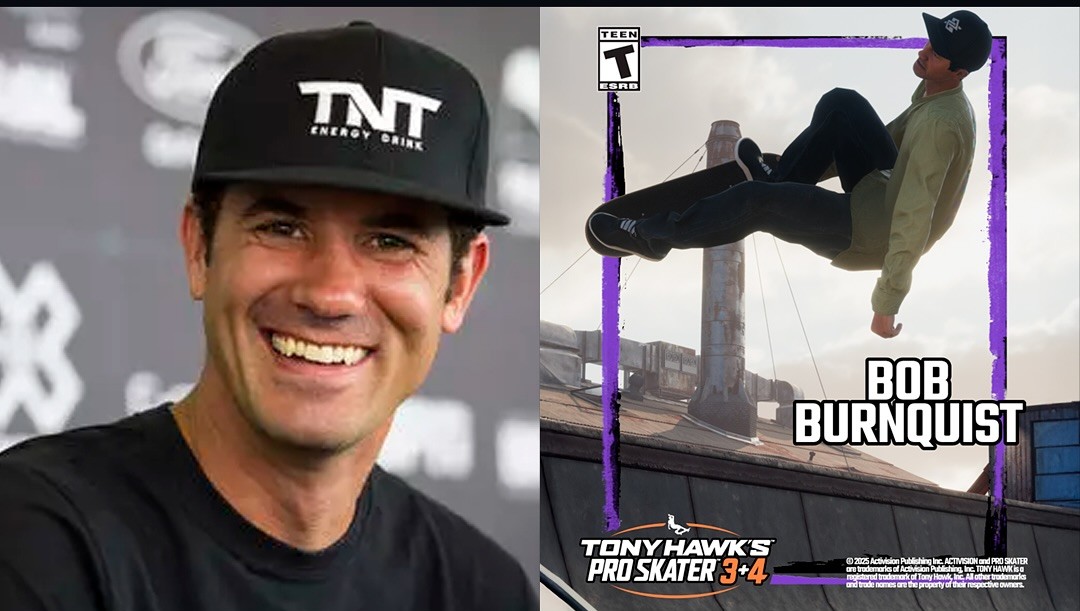Um ensaio sobre o colapso cognitivo dos tempos atuais
Resumo: O ensaio My brain finally broke, de Jia Tolentino, publicado no New Yorker, é uma reflexão pessoal e política sobre a sensação crescente de desorientação diante de uma realidade cada vez mais absurda, manipulada e insuportável. A autora descreve como sua percepção do mundo foi sendo distorcida por uma avalanche de informações, imagens falsas, […] O post Um ensaio sobre o colapso cognitivo dos tempos atuais apareceu primeiro em O Cafezinho.

Resumo: O ensaio My brain finally broke, de Jia Tolentino, publicado no New Yorker, é uma reflexão pessoal e política sobre a sensação crescente de desorientação diante de uma realidade cada vez mais absurda, manipulada e insuportável.
A autora descreve como sua percepção do mundo foi sendo distorcida por uma avalanche de informações, imagens falsas, eventos políticos chocantes (como o segundo governo Trump), e o impacto psicológico da guerra em Gaza.
Ela também critica o papel das redes sociais e da inteligência artificial na criação de uma realidade confusa e emocionalmente opaca, onde o real e o falso se misturam e a capacidade de reagir se esvai. Ao longo do texto, Tolentino aborda temas como alienação digital, desumanização política e o futuro incerto que aguarda seus filhos em um mundo cada vez mais controlado por máquinas e fantasias fabricadas.
****
Meu cérebro finalmente colapsou
Por Jia Tolentino, no New Yorker
Sinto uma espécie de opacidade perturbadora no meu cérebro ultimamente — como se a realidade estivesse se tornando ilegível, como se a linguagem fosse um recipiente com buracos no fundo e o significado estivesse vazando por todo o chão. Às vezes, procuro palavras depois de escrevê-las: “ilegível” ainda significa muito bagunçado para ler? No dia seguinte à segunda posse de Donald Trump, minha cognição verbal começou a falhar: recebi um e-mail da empresa de roupas infantis Hanna Andersson e li o nome como “Hamas”; na rua, pensei que “hot yoga” era “hot dogs”; no metrô, um cartaz de teatro anunciando “Jan. Ticketing” dizia “Jia Tolentino” para mim. Mesmo as palavras que eu poderia usar para descrever mais precisamente a sensação de “perder a cabeça” me escapam. Às vezes, há apenas imagens: garoa branca enevoada, arco-íris derretidos em uma poça de gasolina, espuma rosa de isolamento explodindo entre ripas de madeira lascada.
Talvez eu devesse estar escrevendo isso no formulário de admissão de um consultório de neurologista. Talvez a névoa nunca tenha se dissipado após minha terceira rodada de COVID. Talvez seja o autoafastamento de ter dois filhos pequenos, mas fingir por metade do dia que não os tenho. Talvez isso seja exatamente o que minha mãe me advertiu há vinte anos, quando descobriu minha paixão pela maconha. Mas tenho a sensação de que muitas pessoas estão se sentindo assim o tempo todo agora também.
Na raiz dessa opacidade pode estar o que quer que esteja acontecendo com o tempo atualmente. Eu o acompanho principalmente no meu telefone, um dispositivo que me faz sentir como se estivesse amarrada plana à tábua de um presente irreal: o passado desapareceu, o futuro é inconcebível e meus olhos estão presos abertos para ver o agora incessantemente reabastecido. Mais de uma década reclamando dessa situação não fez nada para mudar minha compulsão de induzir dissociação a cada novo dia. E, embora tenha havido um tempo em que meu entorno físico parecia mais concreto do que o que eu estava vendo no meu telefone, este ano marcou um ponto de virada. Agora, os tentáculos cognitivos de uma psicose baseada no telefone frequentemente parecem mais descritivos da realidade contemporânea — “pequeno grupo de PC Houthi”, etc. — do que os narcisos que vejo brotando no parque. O telefone devora o tempo; nos faz viver como as pessoas vivem dentro de um cassino, baixando uma cortina blackout sobre as janelas para bloquear o mundo, exceto que a cortina blackout é uma tela, mostrando demais do mundo, rápido demais. Como Richard Seymour escreve no livro “The Twittering Machine”, essa evitação do fluxo real do tempo, essa compulsão em direção ao cronófago, o devorador de tempo, é uma história de horror que provavelmente só acontece “em uma sociedade que está ocupada produzindo horrores”.
Mas agora a realidade quer — sente-se — devorar o tempo também. Por exemplo: dez dias antes de ser empossado, Trump havia sido condenado a liberdade incondicional em trinta e quatro acusações criminais de falsificação de registros comerciais. Mas eu realmente não me lembro disso, nem entendo se isso importava. Lembro-me do primeiro dia de sua presidência, quando ele renomeou o Golfo do México e também assinou ordens executivas para acabar com o direito à cidadania por nascimento, restaurar a pena de morte federal e eliminar qualquer coisa que exalasse um cheiro de D.E.I. O mesmo aconteceu no quinto dia, quando ele demitiu os fiscais, ordenou que o governo parasse de investigar proibições de livros e sugeriu fechar a FEMA; também no décimo dia, quando anunciou planos para mover migrantes para Guantánamo e alegou, sem evidências, que os EUA haviam enviado cinquenta milhões de dólares em preservativos para Gaza. Mas houve mais noventa dias assim e contando, os eventos de cada um parecendo inconcebíveis à medida que se materializam nas manchetes e depois são rapidamente levados para o aterro cognitivo purgatório de coisas que não foram totalmente absorvidas ou processadas ou combatidas, mas foram pressionadas para a realidade, onde permanecerão como o pano de fundo desbotado do novo e grotesco desfile de cada dia.
Tive essa sensação no início do primeiro mandato de Trump também, mas aqueles tempos eram pitorescos em comparação. Agora nosso presidente, junto com seu tenente gerador de conteúdo Elon Musk, está trabalhando no ritmo de uma internet que vem acelerando implacavelmente há oito anos. Ele está aproveitando essa velocidade, fazendo uso da forma como ela danificou nosso senso do real; ele está se aproveitando disso, superando-a. Indignar-se agora parece quase ultrapassado, um resquício da primeira administração, quando era novo e meio necessário pensar coisas como “Ele não pode fazer isso — é ilegal”, ou “Se ele fizer isso, nos leva direto ao fascismo”. Já estamos lá; o fascismo americano do século XXI está em sua terceira onda estética. A administração está agindo como um conjunto de crianças drogadas com produtos farmacêuticos incendiando coisas e cortando móveis; os membros da oposição democrata, com cerca de três exceções, se estilizaram como pais exasperados, segurando cartazes que dizem “COMEÇAR INCÊNDIOS É RUIM”.
Estou aliviada por termos superado o “#resistência do homem Cheeto Laranja é ruim” — se tivesse havido até mesmo uma sugestão de chapéus de vagina neste janeiro passado, eu teria me jogado no trânsito — mas também sinto a lógica do abusado funcionando dentro de mim: qual é o sentido de gritar quando vamos ficar trancados na casa com eles pelos próximos tantos anos? Minha reação psicológica a Trump, e meu senso cívico do que deveria ser feito sob o jugo desta administração, também foi radicalmente alterado pela guerra em Gaza, cujos horrores parecem impossíveis todas as manhãs e depois se tornam perfeitamente, nauseantemente incorporados ao passado irreversível. Por um ano e meio, temos assistido a vídeos em nossos telefones de bebês deixados para morrer em hospitais bombardeados por Israel, de pais chorando sobre os corpos de seus filhos, de órfãos famintos cobrindo seus irmãos com trapos para mantê-los aquecidos. Nosso governo continua a dar bilhões em ajuda militar a Israel para realizar essas atrocidades. De acordo com uma contagem pública de um grupo ativista, dos quinhentos e trinta e cinco membros do Congresso, apenas noventa já pediram claramente que isso parasse.
Houve resistência real direcionada a forçar o fim dessa situação insuportável: pessoas marcharam, escreveram cartas, importunaram políticos, ocuparam prédios, bloquearam rodovias, foram presas, se incendiaram. Em algum momento da minha própria escrita de cartas domesticada, percebi que não esperava que uma única palavra chegasse significativamente a um ser humano. O escritório do meu senador finalmente me enviou uma carta padrão em dezembro passado, dizendo-me que o objetivo de Israel era “minimizar a perda de vidas palestinas inocentes e maximizar a quantidade de ajuda humanitária aos civis inocentes em Gaza”. (Imediatamente após 7 de outubro, as autoridades israelenses pediram publicamente um “cerco completo” aos “animais humanos” em Gaza e o corte total de eletricidade, água e combustível; Israel repetidamente danificou a infraestrutura em Gaza e bloqueou a ajuda humanitária.) Um arrepio se instala em algum momento, depois uma gravidade, depois um distanciamento. Continuei escrevendo, mas parecia um impulso ritualístico, ou como jogar moedas em uma fonte quando eu era criança. Meus próprios filhos, arrastados para as marchas por seus pais, viraram os rostos para o céu para contar e serem contados pelos drones da N.Y.P.D. acima.
Suspeito que a sensação opaca na minha cabeça também pode ser rastreada até um instinto covarde: é mais fácil se afastar do conceito de realidade do que reconhecer que as coisas nas notícias são reais. O desmantelamento mortal de uma infraestrutura de saúde pública global. A deportação de homens venezuelanos para uma mega prisão infernal em El Salvador, sob a suspeita questionável de afiliações a gangues, com base na presença de tatuagens: flores, um logotipo de futebol, um laço de conscientização sobre o autismo. Uma cidadã de dez anos, em meio ao tratamento para câncer cerebral, deportada, com seus pais indocumentados. A pesquisa sobre câncer efetivamente reclassificada como ineficiência burocrática e o financiamento cortado. Os cortes feitos no Serviço Nacional de Parques, a agência governamental mais justa que existe. A introdução de projetos de lei na Câmara que sugerem tons do Turcomenistão: propondo tornar o aniversário de Trump um feriado federal, ou esculpir seu rosto no Monte Rushmore, ou colocar sua imagem em uma nova nota de duzentos e cinquenta dólares. Os — como mais podemos dizer isso — sequestros patrocinados pelo estado: o desaparecimento para um centro de detenção do ICE na Louisiana de um estudante de pós-graduação com green card, pelo não crime de apoiar um acampamento pró-Palestina na Columbia; o mesmo acontecendo com uma bolsista turca da Fulbright com visto de estudante — homens mascarados a abordando na rua, algemando-a, tirando seu telefone — pelo não crime de coescrever um artigo de opinião. Os planos para o visto “cartão de ouro” de cinco milhões de dólares. A prisão de um juiz de Milwaukee por supostamente ajudar um imigrante a escapar de agentes federais. Os jantares de arrecadação de fundos de um milhão de dólares por prato para um presidente que não tem permissão legal para concorrer novamente.
Muitos desses itens de notícias parecem horríveis demais para serem verdade, exceto que são verdadeiros, embora sejam relatados em veículos de mídia que muitos americanos se recusam a acreditar, e apareçam em feeds de notícias ao lado de uma ampla variedade de coisas que são obviamente falsas — ou, talvez ainda mais traiçoeiras, estranhamente indeterminadas. Um tempo atrás, uma imagem começou a circular no Reddit de uma estátua dourada do Monte Rushmore com a cabeça de Trump colada de um lado; dizia-se que estava em exibição em Mar-a-Lago. Nas primeiras vezes que vi essa imagem, não soube dizer se a foto era real, manipulada no Photoshop ou gerada por inteligência artificial. Procurei a origem e descobri que Kristi Noem havia presenteado Trump com uma pequena escultura de sua cabeça no Monte Rushmore cinco anos atrás. Ok, pensei, talvez a foto seja real. Mas, de todo modo, saber se a imagem de um Monte Trumpmore dourado em Mar-a-Lago captura fielmente um pedaço da realidade não resolveu muita coisa para mim. Um pouco depois, Noem apareceu de novo no meu feed: havia um vídeo dela, produzida como uma estrela da Bravo, diante de uma massa de homens enjaulados no CECOT, a mega prisão em El Salvador. Ela advertia “imigrantes ilegais” a deixarem a América imediatamente ou acabarem dentro daquela jaula. Há um corte no meio do vídeo, que parece uma falha; algumas pessoas na internet acham que é fake. Mas, se for falso, o que isso sequer significa?
Outro dia, numa caminhada com uma jornalista, perguntei se ela também estava sentindo isso — um afrouxamento do impulso reflexivo de checagem de fatos. Ela me disse que ainda pesquisava o que via nos feeds, se fosse algo importante ou relacionado ao seu trabalho. Eu também, disse a ela. (Bem, na maior parte.) Mas agora há uma categoria de coisas que vejo online que registro simplesmente como indícios de que o mundo está escapando da minha compreensão. Um vídeo de um Pikachu gigante fugindo da polícia durante protestos na Turquia. Um clipe do ex-governador Andrew Cuomo dizendo: “Como nova-iorquino, eu sou negro, eu sou gay, eu sou deficiente, eu sou uma mulher tentando controlar sua saúde e suas escolhas.” Vejo anúncios da Temu com produtos estranhos — um tobogã inflável de design inumano, por exemplo, ao lado de crianças e brinquedos renderizados digitalmente. Clico num anúncio de tobogã para investigar, e aparece uma pergunta de segurança me pedindo para “clicar no tipo de fruta que aparece com mais frequência.” Há laranjas, uma pêra, um limão, uma bola de basquete e uma baguete contra um fundo ondulado. Sonolenta, penso: Aparece mais frequentemente onde… no supermercado? E então me lembro de que essa pergunta é puramente digital, e que as respostas provavelmente estão sendo usadas para treinar uma IA.
Imagens falsas na internet não me incomodavam até eu começar a vê-las com meus filhos. Eles frequentemente me pedem para mostrar fotos de filhotes de animais; em algum momento, o Google Imagens começou a nos mostrar criaturas geradas por IA, arruinando toda a ideia, que era maravilhar-se com o fato de que esses filhotes de pavão e leão realmente existem. Durante um tempo, se você procurasse van Gogh, a primeira imagem que aparecia era uma versão gerada por IA de um autorretrato. Se buscar “O jardim das delícias”, de Hieronymus Bosch, pode acabar direcionado a uma imitação desagradável feita por um criador de uma “revista NFT para ser lida e colecionada na Ethereum”. O Instagram está repleto de influenciadores de IA — rostos artificiais colados a corpos reais de mulheres, usados como publicidade para atrair tráfego para sites de conteúdo sexual, também gerados por IA. No OnlyFans, mulheres usam assistentes de IA para se passar por elas em conversas com clientes. Minha aba “Para você” no Instagram está sempre cheia de conteúdo estranho de garotas bonitas, por causa do meu interesse pessoal e profissional em otimização feminina; ultimamente, está cheia de imagens de IA de celebridades femininas de biquíni, abaixo das quais há comentários escritos por bots se passando por pessoas e pessoas que bem poderiam estar se passando por bots. Muitas dessas imagens parecem menos artificiais do que aquelas que estão tentando imitar.
Imagens falsas de pessoas reais, imagens reais de pessoas falsas; histórias falsas sobre coisas reais, histórias reais sobre coisas falsas. Palavras falsas se infiltrando como trepadeiras em artigos científicos, perfis de namoro, e-mails, mensagens de texto, meios de comunicação, redes sociais, listas e candidaturas de emprego. Entidades falsas de prontidão em caixas de chat quando tentamos contestar uma conta médica, esperando como esfinges que decifremos o código que nos permite falar com um ser humano. As palavras se embaralham e as imagens se embaralham, e uma estrutura de permissão é erguida para que nos desliguemos da realidade — primeiro por um momento, depois um dia, uma semana, uma temporada eleitoral, talvez por uma vida inteira.
Nunca usei o ChatGPT, o que me coloca numa minoria cada vez menor. Quatrocentos milhões de pessoas agora usam a plataforma toda semana. As pessoas usam o ChatGPT mesmo sem realmente confiar nele: numa pesquisa, cerca de quatro em cada dez disseram ter pouca ou nenhuma confiança no ChatGPT para fornecer informações precisas sobre a eleição de 2024. Por que não ceder cada vez mais a essa tecnologia? Por que não pedir conselhos, deixar que redija suas mensagens, delegar tarefas de um projeto? Por que não dar a ele o cardápio de um restaurante e pedir que escolha seu prato e, com isso, ter a melhor refeição da sua vida?
A sombra ambiental da minha vida digital já é absurda, e eu precisaria de um bom motivo — prazer já seria suficiente — para me envolver com uma tecnologia que não só está piorando o mundo físico como também é decididamente opcional. (Quer ver como seu cachorro pareceria se fosse humano? Você tem imaginação para isso!) IA me parece, francamente, repulsiva: ela disfarça preconceito como neutralidade; ela alucina; pode ser “envenenada pela sua própria projeção da realidade”. Quanto mais frequentemente as pessoas usam o ChatGPT, mais solitárias e dependentes dele se tornam. Uma atualização recente tornou o chatbot tão bajulador que, se um usuário dissesse que parou de tomar seus medicamentos e abandonou a família porque estavam transmitindo sinais de rádio suspeitos, o ChatGPT responderia com elogios bajuladores sobre sua corajosa jornada de busca pela verdade. No início desta semana, Mark Zuckerberg sugeriu, num podcast, que a pessoa média tem apenas três amigos, mas “tem demanda” por quinze, e que a IA poderia ajudar. O ChatGPT vai cristalizar os problemas que afirma resolver, tornando-se assim essencial: encorajando os usuários a depender cada vez menos de seus próprios recursos internos num momento em que já estamos perdendo os equipamentos — nossa vontade, nossos instintos, nosso senso de realidade — com os quais lidamos com a tarefa de estar vivos.
As pessoas estão produzindo autorretratos manipulados por IA em plataformas que podem se reservar o direito de usar essas imagens em propagandas. Golpistas estão usando deepfakes ao vivo em videochamadas, mudando sua raça, gênero e voz em tempo real. Quando meus filhos forem pré-adolescentes, será fácil — e provavelmente gratuito — gerar pornografia personalizada com as pessoas de sua escolha. Imagino que não será chocante para eles, como é para mim, se uma chatbot atuando como namorada virtual incentivar um colega a cometer suicídio. Imagino os sermões ridículos que vou dar a eles: “Queridos, é muito melhor olhar para um corpo humano real, imperfeito.” Se eu estivesse na décima série, entediada à meia-noite com um trabalho escolar inacabado, também recorreria à tecnologia. Será que conseguirei convencê-los de que as únicas partes realmente valiosas da minha mente são aquelas que resistiram ou escaparam dos incentivos da internet? Meus filhos estão numa idade em que nada os empolga mais do que fazer coisas sem ajuda. Eles têm apenas alguns anos antes de aprenderem que a vida adulta, hoje em dia, significa ceder cada vez mais às máquinas.
Suspeito que vou me lembrar — provavelmente vagamente — de uma semana no fim de março de 2025 como um momento decisivo. A OpenAI havia acabado de introduzir novas ferramentas de geração de imagem para o ChatGPT. Os usuários agora podiam transformar fotografias em ilustrações no estilo Studio Ghibli — imagens de seus casamentos, por exemplo, ou de seus filhos e, inevitavelmente, de Columbine e do 11 de Setembro. A tendência chegou ao ápice grotesco quando a conta oficial da Casa Branca tuitou uma ilustração no estilo Ghibli de um agente algemando uma mulher chorando — uma imigrante indocumentada que havia sido condenada por tráfico de drogas e recentemente presa pelo ICE. A postagem era uma piada, e talvez eficaz, maximizando a distância entre a estética terna, melancólica e profundamente humana do Studio Ghibli e a crueldade desumanizadora e alegre que é a marca registrada de Trump. A imagem apareceu no meu feed em meio a um monte de besteiras, e então atualizei a página. E, como previsto, ela desapareceu.
Jia Tolentino é redatora da The New Yorker. Em 2023, venceu o National Magazine Award por suas colunas e ensaios sobre aborto. Seu primeiro livro, a coletânea de ensaios Trick Mirror, foi publicado em 2019.
Fonte: The New Yorker
Publicado em: 3 de maio de 2025
Tags: inteligência artificial, redes sociais, trumpismo, guerra em Gaza, desinformação,
O post Um ensaio sobre o colapso cognitivo dos tempos atuais apareceu primeiro em O Cafezinho.