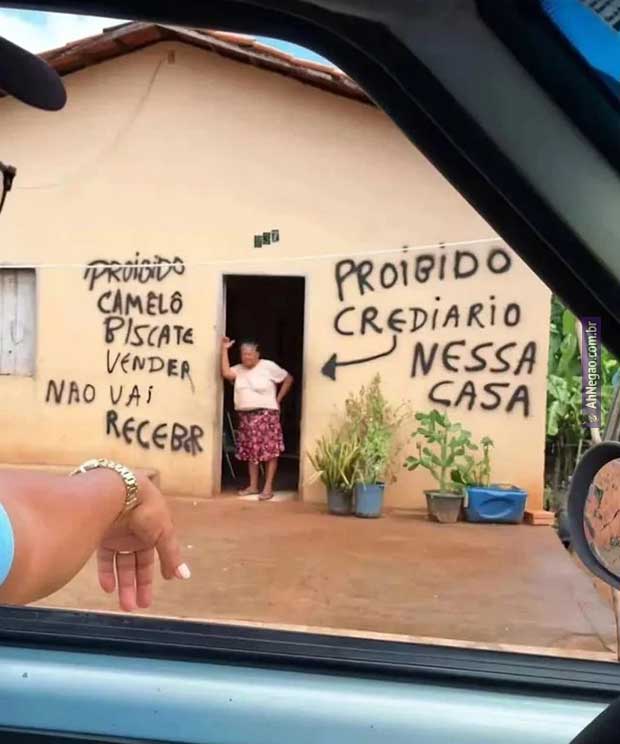A Pirâmide de Maslow invertida e a fragilidade do Ocidente
Em 1954, Abraham Maslow publicou a sua Hierarquia das Necessidades, explicando a ligação entre as necessidades básicas e os desejos humanos. Era um conceito simples que resumia as motivações da sociedade num triângulo dividido em cinco níveis. Maslow defendia que as nossas necessidades fisiológicas fundamentais (ar, água, comida, roupa, sono) devem ser satisfeitas antes das […]


Em 1954, Abraham Maslow publicou a sua Hierarquia das Necessidades, explicando a ligação entre as necessidades básicas e os desejos humanos. Era um conceito simples que resumia as motivações da sociedade num triângulo dividido em cinco níveis.
Maslow defendia que as nossas necessidades fisiológicas fundamentais (ar, água, comida, roupa, sono) devem ser satisfeitas antes das necessidades de segurança (emprego, saúde, propriedade), seguidas pelas necessidades sociais (amor, pertença, amizade), e depois pelas de estima (status, reconhecimento, liberdade, respeito). No topo da pirâmide, estaria a autorrealização — o “desejo de se tornar o máximo que se pode ser”.
Hoje essa pirâmide está invertida no Ocidente. A sobrevivência exige pouco — calorias, água e abrigo básico. Já a autorrealização moderna consome vastos recursos e tornou-se profundamente materialista. Vestem-se roupas não apenas para proteger, mas para afirmar o estatuto. Come-se não só para alimentar o corpo, mas para partilhar experiências. Adquirem-se produtos e vivem-se experiências não apenas para satisfazer necessidades, mas para representar quem se é. O topo da pirâmide cresce de forma desproporcionada, desequilibra-se e consome tudo o que está abaixo.
Até aqui, tudo bem — não fosse este modelo, cada vez mais evidente no Ocidente, estar a produzir homens fracos. A verdade é que o aumento do bem-estar, do lazer e de mais tempo para atividades intelectuais são conquistas desejáveis, mas desde que continuem ligadas ao esforço, à responsabilidade e à capacidade de construir – precisamente aquilo que este modelo tem vindo a abandonar. Trata-se de um padrão típico das economias avançadas ocidentais, hoje na fase hedonista de um império em declínio: mais direitos do que deveres, mais retórica do que ação, mais diplomas do que competências práticas. Multiplicam-se os licenciados e doutorados que não sabem apertar um parafuso, enquanto faltam pedreiros, eletricistas, canalizadores e engenheiros capazes de erguer infraestruturas. O trabalho produtivo foi desvalorizado, e a técnica, substituída pela oratória.
A consequência? Um Ocidente onde as pessoas cantam como cigarras e trabalham cada vez menos como formigas, tal como na célebre fábula de La Fontaine. Planos estratégicos ficam décadas “em estudo”, como no caso do aeroporto de Lisboa, enquanto noutros países as coisas são feitas. Na China, linhas de alta velocidade, portos, fábricas e cidades inteiras são construídos em poucos anos. A Índia segue o mesmo caminho.
Como resultado, os novos “Steve Jobs” nascem cada vez menos no Silicon Valley e surgem cada vez mais em Shenzhen ou Bangalore. Há dias, Tim Cook, CEO da Apple, admitiu-o sem rodeios: o que atrai a empresa não é a mão de obra barata, mas sim a capacidade técnica e a escala industrial que a China oferece. A competitividade chinesa já não assenta apenas no custo do trabalho, mas na sofisticação tecnológica — com um ecossistema construído ao longo de décadas, que alia escala, velocidade e precisão de fabrico. O país forma anualmente um vasto número de engenheiros altamente qualificados — STEM graduates, ou seja, diplomados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática — cerca de dez vezes mais do que os EUA. Esse capital humano, aliado à capacidade de execução, torna a China difícil de replicar, atraindo investimento global e passando, para já, a ombrear com os EUA, a Alemanha e o Japão. Hoje a ombrear, amanhã talvez a superar.
Apesar desta dependência estratégica, a Apple já começou a diversificar, olhando para a Índia — um país com incentivos estatais agressivos, uma força de trabalho vasta e qualificada, e um ecossistema de eletrónica em rápido crescimento. A deslocalização do centro industrial global está em curso. E essa mudança decorre num contexto mais amplo, em que a globalização tende a deixar de ser o princípio organizador da economia mundial.
O Círculo de Valeriepieris abrange a Índia (e países vizinhos), a China, a região da Indochina e o Sudeste Asiático Insular — que inclui a Indonésia, as Filipinas, a Malásia (parte insular), Brunei, Singapura e Timor-Leste — concentrando mais de metade da população mundial, aproximadamente 4 mil milhões de pessoas, numa área que representa apenas 7% da superfície terrestre. Embora corresponda somente a um quarto do PIB global, o Círculo de Valeriepieris tem um forte potencial de crescimento, tendo para já o “peso demográfico” do mundo, mas ainda não o seu “peso económico”. Estará aqui o futuro centro de gravidade da economia mundial?
A par deste peso populacional, assiste-se também a uma reconfiguração silenciosa da arquitetura monetária regional. Embora nenhuma moeda do Sudeste Asiático esteja oficialmente indexada ao renminbi (RMB), moeda chinesa, muitos países agem como se estivessem a construir um sistema cambial regional paralelo, onde o RMB serve de referência informal. Isto faz parte de uma estratégia silenciosa de desdolarização, com impacto crescente na geopolítica monetária asiática — e ainda pouco compreendido fora dos círculos especializados.
Este processo acontece num momento em que os EUA começam a perder centralidade como destino de investimento. À medida que os EUA se tornam uma fonte de capital em vez de um destino para capital, a narrativa do excecionalismo americano está a ser corroída.
Durante décadas, os EUA beneficiaram de uma vantagem comparativa decisiva: o controlo do ecossistema tecnológico global — da infraestrutura à inovação, com destaque para o capital de risco, o talento e a influência cultural. Mas esse monopólio tornou-se caro. E, como todos os monopólios que se tornam demasiado caros ao longo da História, está agora a ser posto em causa.
A China lidera esse embate com empresas como a Huawei, a Xiaomi e a OPPO, que disputam o mercado da Apple, a DeepSeek, que se posiciona como alternativa à OpenAI, a Tencent e a ByteDance — dona do TikTok — que rivalizam diretamente com a Meta, a Alibaba, a JD.com e a Pinduoduo, dona da Temu, que competem com a Amazon, a BYD, a Nio e a XPeng, que enfrentam a Tesla, e a Baidu que desafia a Google. O domínio da inovação tecnológica, outrora concentrado num único polo, está hoje a dispersar-se, dando lugar a uma configuração multipolar em que a Ásia se aproxima cada vez mais do controlo de setores estratégicos.
A divisão geoeconómica acentua-se, e o mundo fragmenta-se cada vez mais em três grandes zonas económicas — os EUA, a Europa e uma zona asiática liderada pela China, à qual pertence também a Índia, o chamado Círculo de Valeriepieris — tendência acelerada pelas políticas protecionistas de Trump. Com esta reconfiguração, consolida-se gradualmente o novo centro de gravidade económico do planeta.
A tese da pirâmide de Maslow invertida e a fragilidade do Ocidente encaixam naturalmente no novo cenário global. A emergência de uma ordem tripolar e da centralidade asiática surge de forma orgânica, num momento em que a comparação com a China e a Índia já está em curso.
Tempos prósperos criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Quando o Ocidente acordar, será tarde demais? Talvez precise de passar por uma nova fase de escassez, de colapso e de reconstrução — pois, como nos ciclos da História civilizacional, a necessidade volta sempre a aguçar o engenho. Tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam tempos prósperos. Só então voltarão os construtores, os verdadeiros líderes e os planos sérios.
Enquanto o Ocidente inverte a pirâmide de Maslow e consome mais do que produz, a Ásia constrói, investe, desenvolve e organiza-se. A China e os seus parceiros têm vindo a preparar-se informalmente, desde a crise de 2008, para este novo mundo fragmentado — com swaps cambiais, alternativas ao SWIFT, zonas monetárias informais centradas no RMB e fundos prontos a financiarem grandes obras de infraestrutura. Eles não estão a discutir planos — estão a executá-los.


Fonte dos gráficos: Paulo Monteiro Rosa



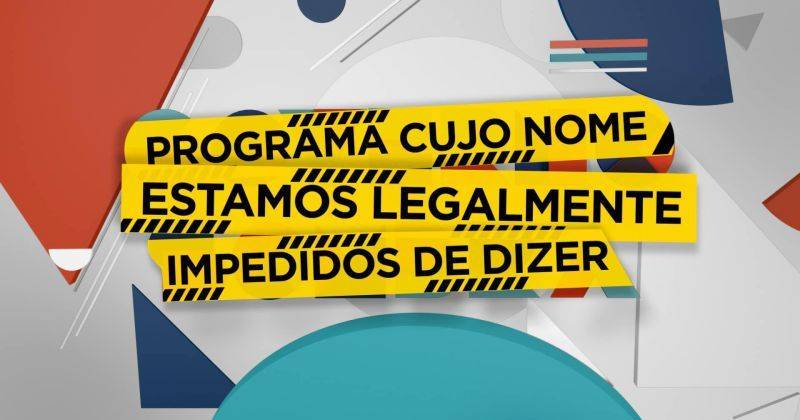



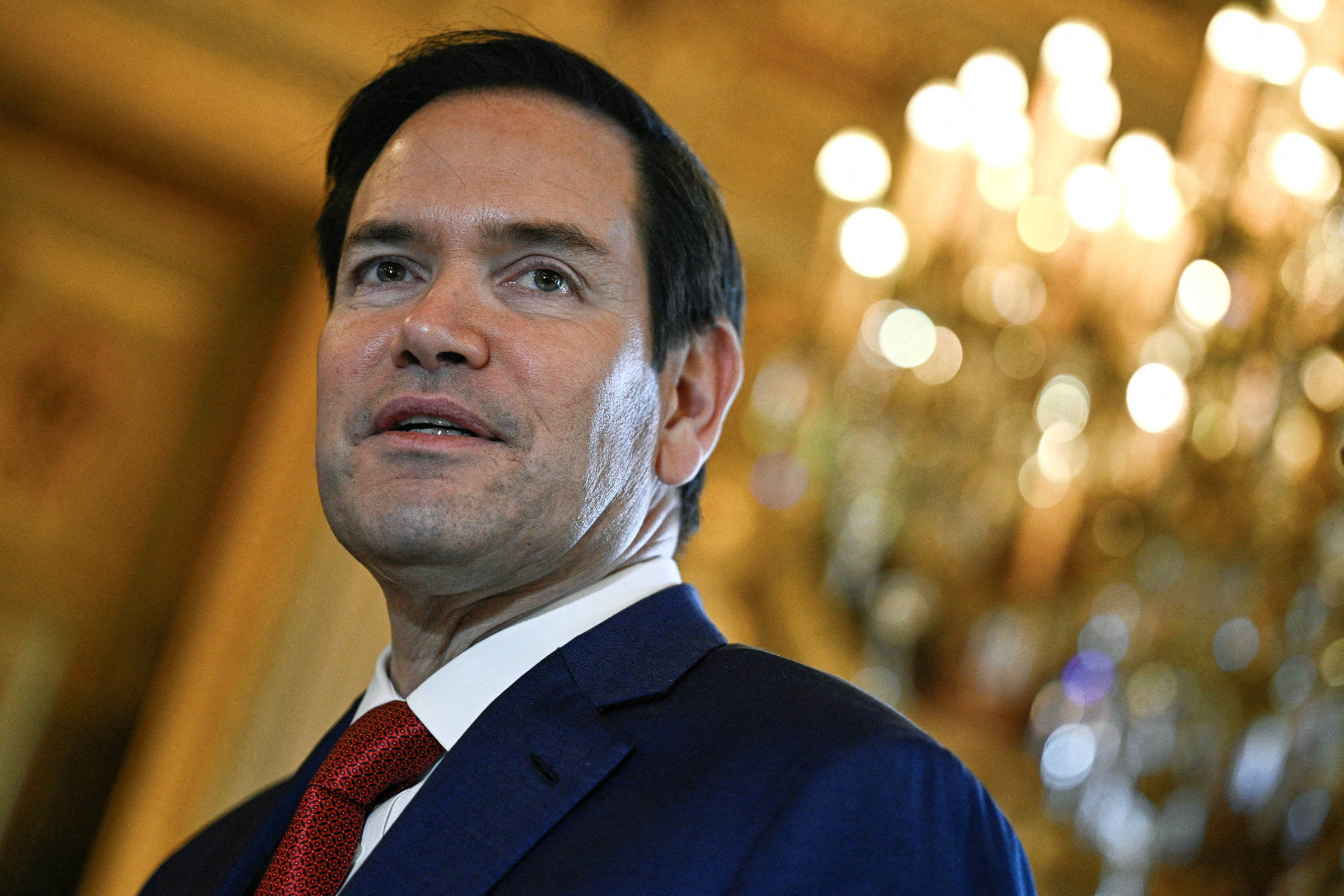


















![(Vídeos Star Wars [Respawn / Bit Reactor Strategy Project])](https://sm.ign.com/ign_br/video/default/untitled-2-1643106970715-1643112466679_dj2u.jpg?#)




























.jpg)




![[Alerta do leitor] Azul começou a cobrar marcação de assento antecipada para clientes Diamante em voos internacional](https://s0.wp.com/i/blank.jpg)