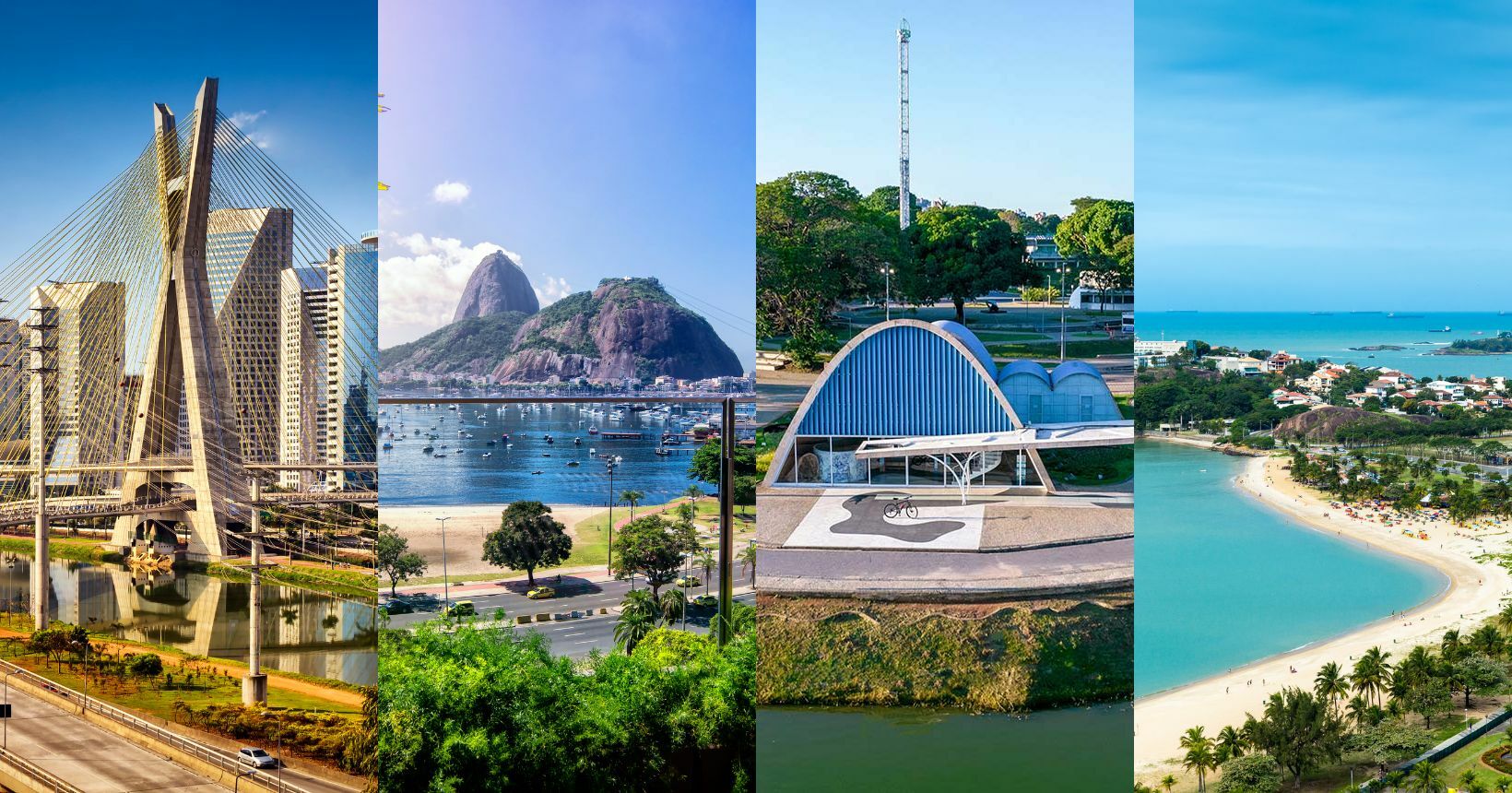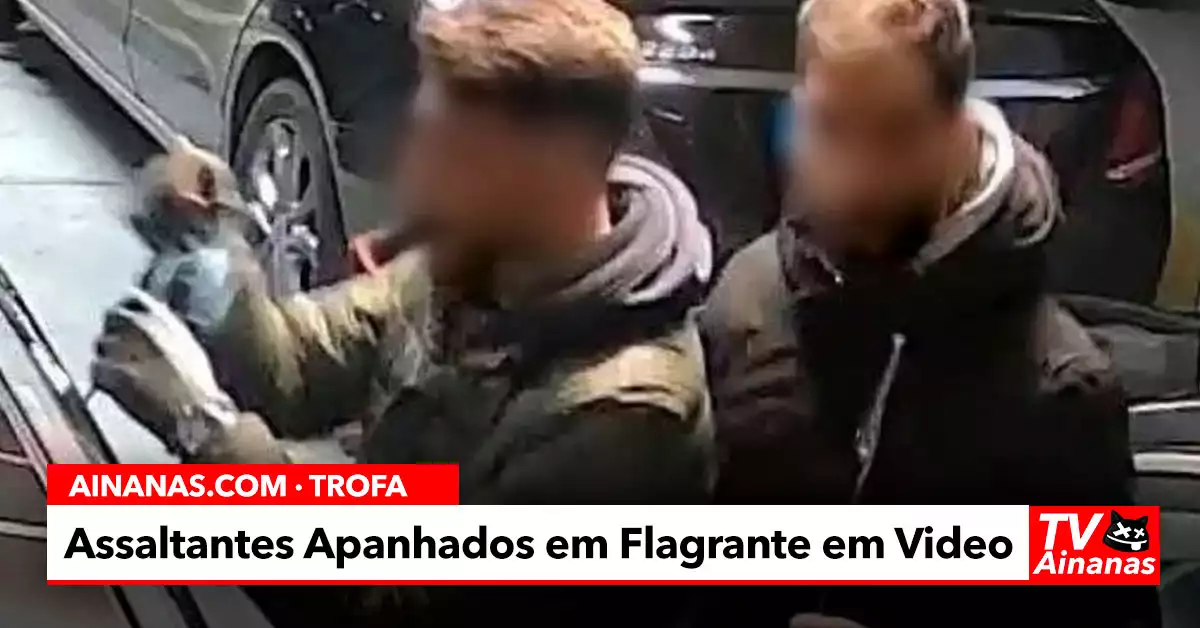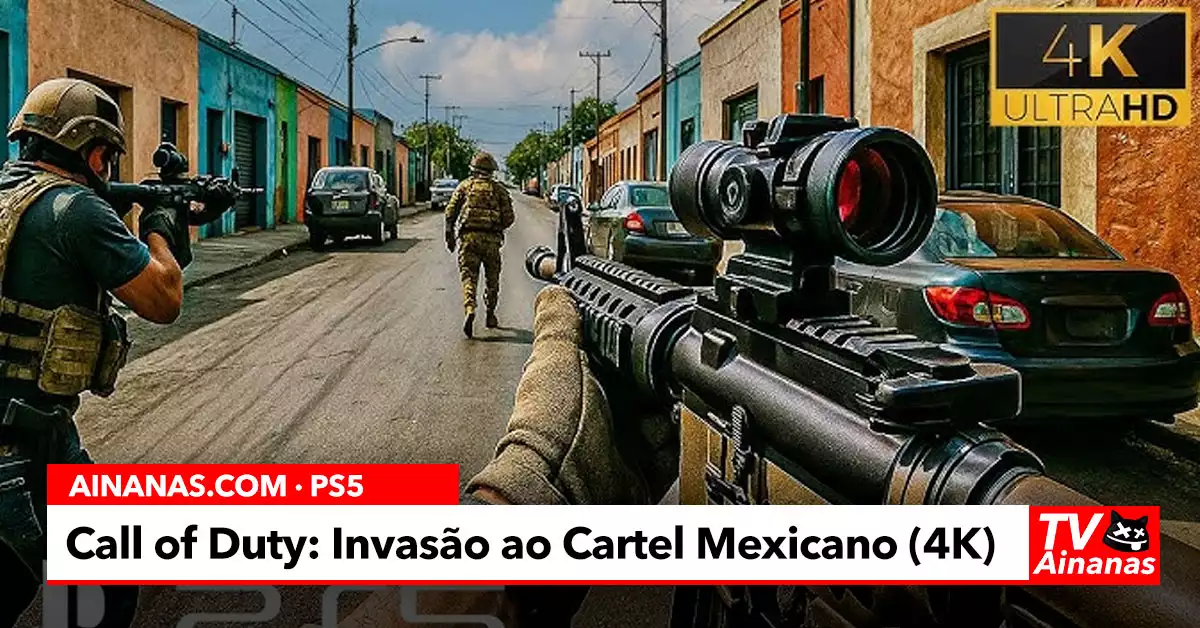O lobo terrível não ressuscitou e a sua de-extinção é uma perigosa fantasia
“Os lobos-terríveis estavam extintos há 13 mil anos. Mas um grupo de cientistas voltou a trazê-los à vida" foi a manchete que esteve por toda a parte na última semana. Mas mais do que um milagre ecológico, este é um caso de estudo sobre o modo como o ecossistema mediático trata a ciência como entretenimento.

No meio das desgraças que todos os dias inundam os feeds das redes sociais, durante esta semana uma notícia parecia contrastar por completo da toada apocalíptica habitual. Desta vez não era sobre o perigo de extinção de mais uma espécie, mas o oposto. “Os lobos-terríveis estavam extintos há 13 mil anos. Mas um grupo de cientistas voltou a trazê-los à vida”, lia-se nas letras maiores das publicações de redes sociais do jornal Expresso, que se multiplicavam em partilhas convictas de que estaríamos perante um autêntico milagre da ciência. Como em todos os milagres dos nossos tempos, este vem com muito por descodificar para além da capa da Revista TIME, fonte de toda a fé.
Num tempo dominado por notícias de colapso climático e perda de biodiversidade, a ideia de “ressuscitar” uma espécie surgiu como uma hipótese de redenção — um vislumbre de esperança tecnológica para os pecados coletivos do Antropoceno. Mas não só o uso das expressões rapidamente se revelou exagerado, como o imaginário que convoca — e a intenção com que o faz — expõem uma ecologia profundamente antropocêntrica, onde o homem se assume como uma espécie de deus, e tudo se transforma em espetáculo. Neste caso, um espectáculo “biotecnológico”, como lhe chama Pedro Prata, Líder de equipa da associação Rewilding Portugal, num artigo publicado em reação à notícia no jornal Público.
Afinal, a notícia da de-extinção não assentava em qualquer tipo de consenso científico em torno do acontecimento, mas sim na afirmação de uma empresa de biotecnologia chamada Colossal Bioscience. A mesma que lá fora tem sido notícia nos últimos 3 anos pela promessa de resuscitar Mamutes, Dodos e Tigres da Tasmânia. E também cá foi protagonista de publicações: “‘Ressuscitar’ mamute extinto está cada vez mais perto da realidade”, em 2024 na Sic Notícias; “Cientistas dizem estar perto de ressuscitar espécie perdida. Está a chegar a era da desextinção”, em fevereiro de 2025 na CNN Portugal. 
Neste contexto, mais do que um avanço inquestionável da ciência, o anúncio da Colossal Bioscience é um caso de estudo sobre o modo como o ecossistema mediático trata a ciência, submetendo-a à mesma lógica de qualquer outro espetáculo. E sobre como a discussão em torno do futuro da biodiversidade se fragiliza quando se torna vulnerável a fenómenos de hype como este — onde a de-extinção de uma espécie é apresentada quase como um spin-off de uma série de entretenimento de sucesso. “A espécie é considerada a inspiração do lobo que simboliza a Casa Stark na série “A Guerra dos Tronos”. Saiba tudo através do link na bio do @jornalexpresso.” Foi o que li na primeira publicação que me apareceu.
Tendo como pano de fundo os cortes de financiamento de Donald Trump a prestigiadas universidades e centros de investigação — usando todos os subterfúgios para atacar a ciência —, o súbito triunfo de uma empresa biotecnológica financiada por capital de risco, que troca a validação científica pela força do marketing e do storytelling, pode ser visto como uma premonição do futuro. E um alerta sobre os riscos que isso representa para a construção de um imaginário coletivo.
Nem de-extinção, nem ressurreição
Comecemos por tirar o elefante da sala. Ou melhor, o lobo. O que os cientistas da Colossal Biosciences fizeram não foi ressuscitar um lobo-terrível. Nem sequer recriar um. O que fizeram foi recuperar uma parte de ADN de um lobo-terrível de amostras com milhares de anos, pegar num lobo-cinzento — animal com grandes semelhanças genéticas — e editar partes do seu ADN deste para que apresentasse algumas características físicas características da espécie extinta. Este conjunto de procedimentos é suficientemente inovador para aparecer nas notícias, sem dúvida, mas não na dimensão em que foi.
No total, a empresa diz ter feito 20 alterações em 14 genes – apenas 15 destas diretamente baseadas no genoma da espécie extinta. O número é impressionante, provavelmente nunca se tinham conseguido fazer tantas alterações genéticas de uma só vez num animal, mas é também o princípio do fim do mito da de-extinção, dada a escala da modificação. O genoma do lobo-cinzento terá aproximadamente 2.447.000.000 de bases individuais (letras de ADN). E, embora a Colossal Bioscience diga que o ADN dos dois lobos é 99,5% idêntico, essa margem ainda representa cerca de 12.235.000 diferenças individuais como explica à Vox o paleontologista Nic Rawlence. Em vez de criar um lobo-terrível, o que se criou foi um lobo-cinzento onde alguns genes específicos, identificados por propiciar determinadas características, foram alterados para que o resultado fosse mais parecido com o lobo-terrível. Da mesma forma que a própria Colossal Bioscience tinha, há pouco tempo, recorrido à mesma técnica, para criar ratos com pêlo de mamute.
Para Beth Shapiro, a cientista que lidera todo o processo, a questão se é ou não é um lobo-terrível tem que ver com a forma como se categorizam e definem as espécies. E, para si, a morfologia — “se se parece com um animal, então é esse animal” — sobrepõe-se à “perspectiva filogenética [as relações evolutivas]”. É isso que valida que 20 modificações genéticas sejam vistas como o suficiente para resumir 6 milhões de anos de evolução que passaram desde o antepassado comum entre o lobo terrível (Aenocyon dirus), extinto há 13 mil, recorde-se, e o lobo cinzento (Canis lupus). Se a validade científica desse argumento não cabe a este artigo refutar, vale a pena perceber as suas articulações. E o papel central que tem no sucesso da empresa.
A utilização de animais icónicos na narrativa da empresa tem sido uma constante desde que começou a dar que falar. Entre o Dodo, o Mamute, os Tigres da Tasmânia e agora os lobos terríveis, somam-se as promessas de trazer de volta animais da extinção. Somam-se também rondas de investimento que vão fazendo com que a empresa já valha 10,2 mil milhões de dólares, e consiga empregar 120 cientistas. Shapiro, que tem uma longa carreira dedicada à temática, diz crer que, ao “resolver” o problema da de-extinção do dodo, a Colossal Biosciences está a desenvolver técnicas que podem ser úteis à conservação, e que seria impensável resolver a crise da biodiversidade através da recriação de espécies. Mas quer queira quer não, a forma como a Colossal Biosciences traz a conservação para o debate não é a mais saudável, como mostram as sucessivas tentativas de contrariar o hype e recentrar o debate. Para dar um exemplo concreto, visitemos desta vez a página de Instagram do Público, onde a ‘notícia’ original (chamemos-lhe assim por conveniência) teve 33 mil likes, enquanto os dois artigos complementares – com mais informação e uma perspectiva ponderada (a opinião de Pedro Prata e a tradução do Washington Post) – ainda nem sequer foram publicados.
A espectacularização da ciência
Visitar o site da Colossal Biosciences é uma experiência interessante para tomar o pulso à empresa. Ao contrário do habitual site entediante de centro de investigação, este é completamente diferente. E bastante parecido ao da empresa de tecnologia militar Palantir. Ou com um site em torno de uma qualquer série de ficção científica prestes a estrear. Com vídeos em loop, complexos arranjos gráficos, infográficos e mensagens publicitárias que ocupam todo o ecrã, é fácil sentirmo-nos atraídos pela proposta da startup, mas difícil encontrar o fio à meada, no meio de tanta informação que parece cuidadosamente selecionada para vender a promessa mais do que para a sustentar.
Num dos separadores, por exemplo, a empresa fala-nos do objectivo de de-extinguir espécies da megafauna, do seu potencial impactante nos ecossistemas. E faz-nos um convite: “So, think big. woolly mammoths. Hippos. Elephants. Giraffes. Rhinoceri. Large bovines.” Mas pouco ou nada nos diz sobre casos concretos e ecologias específicas que pretendem impactar. Um pouco como temos visto a inteligência artificial a ser vendida como a solução para tudo sem que, até agora, solucione nada de facto, a Colossal vende-nos uma ideia a que chamam “conservação disruptiva”, assumem que esta abordagem pode “perturbar o statu quo”, apontam para o longo prazo os efeitos desta tecnologia mas não se poupam nas promessas. “Pode o mal que a humanidade causou ser desfeito? A resposta é sim”, lê-se a determinada altura no site.
Percorrendo todo o site é impossível ficar indiferente. Para além dos projectos de de-extinção, a empresa afirma o seu compromisso com uma série de outras áreas, desde a conservação à remoção de plásticos dos oceanos. E fá-lo de forma muitíssimo apelativa, com alguns dos melhores layouts de web design que vi nos últimos tempos. É evidente que esse cuidado gráfico não é, nem pode ser, um desqualificador da empresa – até porque todos temos a ganhar em tornar estes temas mais apelativos – o interessante aqui é observar como para a mensagem da empresa ganhar escala perde toda a substância que a torna minimamente interessante. E como isso arrasta (ainda mais) o discurso sobre a ciência e ecologia para um campo altamente especulativo.
Se é certo que o actual paradigma de produção de ciência, que se pode resumir no famigerado “publish or perish”, tem sido durante os últimos anos alvo de críticas por obrigar os cientistas a um ritmo constante de publicações que prejudica o trabalho científico em prol de métricas objectivas que permitam quantificar a produção; empresas como a Colossal Biosciences mostram que o abandono desse paradigma meritocrático, pode levar-nos por um caminho ainda mais especulativo. Onde o brilho das promessas ofusca por completo a morosidade dos processos, e até, em certa medida, os seus efeitos concretos.
Num famoso TEDX há cerca de 10 anos, Benjamin Bratton conta a história de um físico seu amigo que vira uma proposta de investimento rejeitada por o pitch não ser bom o suficiente, e alerta para a perversidade de condicionar a ciência à gramática do capitalismo tardio. Algo que neste caso é por demais evidente. Não só as promessas são cuidadosamente pensadas para gerar atenção do público — não teriam metade da atenção se propusessem recriar a vida de uma bactéria ou de qualquer outro animal sem aura, como mostra por exemplo o total desconhecimento do público sobre os projectos da empresa com uma espécie de pombo-passageiro (mais interessantes do ponto de vista da conservação). Como todo o processo científico é preterido em prol do investimento, invertendo por completo o ónus da descoberta: “Ou se fazem lobos-terríveis ou se fazem artigos científicos em como alguém, em algum ponto, pode fazer um lobo-terrível. Os nossos investidores não querem saber dos artigos académicos”, diz a empresa no artigo publicado dias depois do anúncio pomposo.
Do ponto de vista da Colossal Biosciences, e dada a sua necessidade de financiamento e o sistema económico em que está inserida, mais uma vez, não nos cabe a nós legitimar ou deslegitimar a prática. Mais interessante é perceber como esta estratégia subverte por completo qualquer processo de checks & balances característico da comunicação de ciência — contaminando o debate sobre ecologia com uma perspectiva tecno-solucionista, apimentada com todos os condimentos do capitalismo tardio: o horizonte longo-termista, a evocação de imaginários da ficção, e o ultra-processamento da complexidade.
A vulnerabilidade da ecologia mediática
Tal como acontece com dietas baseadas em fast food, uma dieta informativa tão baixa em nutrientes para o nosso intelecto tem consequências. O excesso de açúcares torna-nos viciados em notícias deste género, dessensibilizando-se para as pequenas mudanças que, de facto, compõem o complexo e urgente puzzle da conservação. E, para além disso, assenta numa visão das espécies que, bem feitas as contas, não é necessariamente ecológica.
Apesar de intuitivamente a recuperação de uma espécie parecer uma coisa boa, sem grande margem para dúvidas, é preciso ir mais além neste raciocínio. Este modo de pensar a conservação, podia intitular-se de ‘ecologia do espectáculo’, uma vez que se foca exclusivamente no que é mais visível — seja ao replicar as características físicas das espécies, seja ao escolher as espécies que sãos mais icónicas — relegando por completo tudo o que é invisível e que, em última análise, tem um papel ainda mais importante — desde a dimensão cultural das espécies, até à teia de interdependências em que estas se desenvolveram.
Como alerta num outro artigo publicado no jornal Público no ano 2022, Gonçalo Calado, na altura reflectindo sobre a promessa da Colossal Biosciences de recriar um Tigre da Tasmânia: “Na melhor das hipóteses teremos um animal muito parecido fisicamente com um tigre da Tasmânia. Com sorte, e para nosso deleite, será hipoalergénico e pouco agressivo para lhe podermos dar festinhas em algum santuário. Mas não haverá ninguém para lhe ensinar a ser um tigre da Tasmânia. Esse projeto acabou.” O mesmo se aplica ao caso dos lobos-terríveis — que não só não têm outros indivíduos da espécie como viveram em ecossistemas bastantes diferentes dos que hoje existem e, por isso, provavelmente não sobreviveriam fora de condições altamente controladas.
Nesse mesmo artigo, o autor corrobora a ideia de que podemos ganhar algo do ponto de vista científico, mas alerta para a perda de interesse “na conservação de espécies e habitats em risco, sobretudo se não forem tão carismáticos como este animal.” Para dar um exemplo que nos é próximo, estudos indicam que o corpo humano alberga mais de 10 mil espécies diferentes de bactérias que são essenciais ao nosso funcionamento. Estima-se, aliás, que entre 70 a 90% dos genes presentes no nosso corpo não sejam humanos, mas sim dessas bactérias. Isto mostra que qualquer tentativa de recriar um ser humano de forma fiel teria de ir além da simples replicação da anatomia da espécie e passar pela reconstrução de toda a teia de relações simbióticas que nos constitui — e que é, em grande parte, invisível.
Se esta alteração de perspectiva pode parecer inócua e inofensiva… não é bem assim. Observando a história e a evolução da ciência é possível, simplificando, dizer que a ciência evolui à medida que os métodos e técnicas permitem explorar o invisível – permitindo-nos descobrir formas de vida cada vez mais pequenas, e o seu papel no grande esquema das coisas. Em sentido contrário propostas como esta alteram por completo esse paradigma, desprezando a importância do que os olhos não vêem. E não é, por isso, estranho que recebam a simpatia de quem não parece propriamente comprometido com estratégias de conservação e perspectivas de valorização da diversidade das espécies, mas sim com encenações totalitárias do mundo. Elon Musk foi um dos primeiros a retweetar os vídeos dos supostos lobos terríveis, e Doug Burgum, secretário do interior do governo de Trump, insinuou que perante avanços deste género a lista de espécies em extinção se pode tornar uma coisa do passado.
O ponto deste artigo não é a crítica à prática científica, à edição genética, a procura por novos modos de conservação, nem nenhum tipo de apelo a conservadorismos bioessencialistas. É antes uma reflexão sobre as suas motivações e um alerta sobre o tipo de imaginários e fantasias que alimentamos quando tratamos com tanta superficialidade algo tão complexo como a vida de uma espécie.
Quando a evolução tecnológica torna cada vez mais difícil distinguir a realidade de ficção, e o capital de risco financia projetos que prometem capacidades quase divinas — da de-extinção de espécies à criação de inteligências superiores ou à correção de falhas genéticas —, torna-se urgente cultivar o cepticismo. O risco ao não o fazermos é contribuirmos, mesmo que involuntariamente, para visões eugenistas sobre o humano, e totalitárias sobre a natureza. Diante de uma empresa de biotecnologia que tem como investidor e consultor o criador da série onde essa espécie se tornou famosa (George R.R. Martin, o grande criador de Game of Thrones), tratá-la como mais uma temporada do franchising não é uma vitória ecológica, é uma derrota de toda a ecologia mediática que em vez de contribuir para um entendimento construtivo do mundo, trata tudo como entretenimento. E só valoriza o que é espectacular – mesmo que isso signifique desprezar o que é verdadeiramente essencial.























































.png)

.jpg)